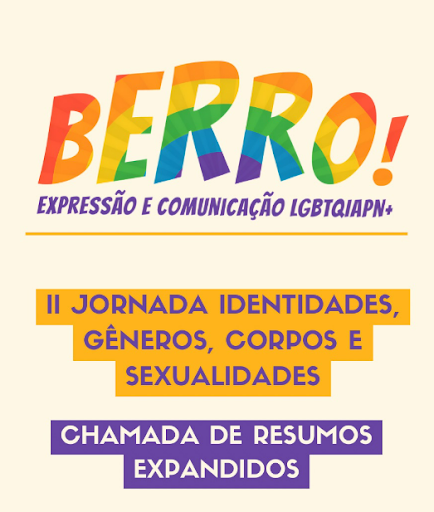O Mundial de Clubes da FIFA, ocorrido nos Estados Unidos durante os meses de junho e julho de 2025, relembrou-nos sobre a dimensão mundial do futebol e o quanto esse esporte mobiliza e prende a atenção de muitas pessoas ao redor do globo terrestre. Pessoas de diferentes países e culturas são influenciadas, seja pela forma como as culturas locais são transmitidas mundialmente, por exemplo, no caso dos jogadores do Mamelodi Sundowns, que chegaram ao estádio com cantos e danças, seja pela maneira como torcedores que nem acompanham esse esporte rotineiramente estavam torcendo por clubes de seu país ou até continente, com forte sentimento latino-americano. Esses são alguns exemplos da magnitude que um esporte pode atingir em nível global.
Concomitantemente ao período do Mundial de Clubes, em junho, no Rio de Janeiro, iniciava mais um ano de competição da Taça das Favelas, um campeonato que existe há mais de 10 anos, em que times masculinos e femininos de diferentes favelas competem em um torneio amador. No início, era somente de abrangência estadual; hoje, é uma competição de nível nacional, com diferentes localidades representadas. A Taça das Favelas é um dos campeonatos amadores de maior visibilidade no Brasil. A partir dele, podemos ter conhecimento de comunidades que, muitas vezes, não são tratadas positivamente pela mídia e, por vezes, nem são lembradas em políticas sociais.

Reprodução: Taça das Favelas
Em senso comum, imagina-se que o futebol pode refletir os processos sociais e culturais de uma sociedade. No entanto, Archetti e Romero (2005) nos apontam que, em sociedades em que o futebol é considerado um esporte nacional, há um movimento maior do que um mero reflexo. O futebol é uma arena que faz parte desses processos, espaço no qual “atores sociais simbolizam e reproduzem, por meio de suas práticas, os valores dominantes em um determinado período” (tradução livre; ARCHETTI & ROMERO, 2005, p. 39). Sendo um produto social complexo, o futebol consegue ser, ao mesmo tempo, um esporte que influencia e é influenciado, reflete e é refletido, tanto em nível global quanto local.
Após trabalho de campo, acompanhando os jogos da fase de grupos da Taça das Favelas, dialogando com atores sociais envolvidos e refletindo acerca das dimensões em que esse campeonato pode chegar – além das dinâmicas do local e global –, notei a importância de mais um agente. Antes, atenta somente às representações das favelas participantes, deparei-me com a importância da ação individual naquele torneio.
No próprio site do campeonato, são apresentados uma série de atletas que eram amadores e que, pela visibilidade do torneio, tornaram-se jogadores e jogadoras profissionais. Em conversas com familiares de jogadores que estavam acompanhando os jogos, era notória a esperança depositada na possibilidade de que aqueles meninos e meninas pudessem alterar o futuro de suas famílias através da profissionalização nesse esporte, assim como a preocupação com uma boa performance nos jogos – em especial, naqueles em que havia a presença de olheiros de grandes clubes.
Por vezes, a representação da comunidade era sublimada pela importância de ir bem individualmente no jogo para ter maior possibilidade de “mudar a vida da família”; logo em seguida, retornava-se à importância de sua favela, o coletivo, ganhar o jogo. Tal fato me relembrou uma das questões centrais que impulsiona a sociologia: a relação entre agente e estrutura, indivíduo e sociedade.
É possível ter essa leitura a partir do conhecimento praxiológico proposto por Pierre Bourdieu (1983). Nessa teoria, o autor apresenta as relações dialéticas entre a estrutura social, nesse caso, a favela que representam e, por outro lado, a agência, com o desejo de caráter individual de profissionalização, em um “duplo processo de interiorização da exterioridade e de exteriorização da interioridade” (BOURDIEU, 1983, p. 47). Durante o campeonato da Taça das Favelas há um duplo movimento: a cultura do futebol praticado nas favelas e a cultura favelada é exportada para além da ótica criminalizadora; além da possibilidade de uma “ascensão” e mobilidade social a partir da profissionalização individual de cada atleta.
A partir desse exemplo, a categoria sociológica é percebida na prática nesse campeonato de futebol. O modo como se dá a relação dialética entre a possibilidade de profissionalização no futebol e a busca pela vitória da comunidade à qual pertencem não ocorre de maneira excludente – nem apenas com o empenho por objetivos individuais, nem somente pela dedicação à coletividade –, mas como dois objetivos que caminham conjuntamente, sem ser uma relação conflituosa. De tal modo, como o futebol pode refletir problemas sociais, quanto ser atuante nesses processos. As relações e produtos desenvolvidos socialmente não podem ser analisados e percebidos de modo maniqueísta.
Referências bibliográficas:
ARCHETTI, E; ROMERO, A. G.. Death and violence in Argentinian football. In: Football, Violence and Social Identity. Richard Giulianotti, Norman Bonney and Mike Hepworth (eds), Taylor & Francis e-Library, 2005.
BOURDIEU, Pierre. Esboço de uma teoria da prática. In. ORTIZ, Renato. Sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: ática, 1983.