Com as arquibancadas vazias, o futebol passou a ser jogado em outro campo: o das reprises de grandes partidas de seleções e clubes. Mais do que mitigar as saudades dos torcedores, essa nova forma de “jogar” permite apropriações de sentidos bastante distintas pelo mesmo torcedor a depender das equipes, então, em campo. E expõe uma das fontes constituintes do futebol: diferentemente de outros esportes, no qual ao candidato a herói basta alcançar a vitória, no futebol, para obter tal reconhecimento, ele precisa derrotar – ou, preferencialmente, eliminar simbolicamente o adversário. De tal condição, tem-se outro gene do DNA futebolístico: a valoração da vitória é diretamente proporcional à força do adversário.
Desse duplo dialético, resulta uma verdade inconfessável pela maioria dos torcedores, principalmente os mais fanáticos: para que a vitória do seu time seja memorável é preciso reconhecer o valor do adversário. A negação de tal condição, indispensável para forjar um grande vencedor, resulta numa contradição que nos diz muito sobre como se desenvolve o estilo competitivo na sociedade brasileira.
Aqui, diferentemente de outros lugares, como a Alemanha, na qual os vice-campeões da Copa de 2002 desfilaram em carro aberto pelas ruas daquele país, o segundo colocado não é o segundo melhor entre vários competidores, mas, sim, o exemplo mais emblemático da derrota, como se tivesse sido o último colocado (SOUTO, 2002). Tal percepção singular da torcida brasileira, quando acionada em relação à seleção do país, pelo menos até um passado cada vez mais remoto, vinha acompanhada da convicção, expressada por jogadores, dirigentes, torcedores e imprensa, de que a cobrança permanente pela vitória seria a responsável pelo Brasil ser o “país mais vitorioso do futebol mundial”.

A exemplo do passado, o processo de rememoração dos jogos tem na imprensa a principal agenciadora da memória. Embora, na era das redes sociais e dos mundos paralelos das bolhas e das fakes news, tal condição tenha perdido potência, não foi, ainda, substituída por outro tipo de narrativa totalizante socialmente aceita para além das “visões alternativas aos fatos”.
Dessa forma, quando as TVs repetem partidas épicas e/ou decisivas, sejam da seleção ou dos clubes, a operação de visita ao passado continua a ter na imprensa o seu principal agente. O processo de apropriação dos sujeitos, no entanto, também vai ser informado por outros fatores, que variam de acordo com a posição que cada um ocupa num determinado grupo social. Assim, em vez de uma memória, temos várias memórias, influenciadas por questões como fatores geracionais; do impacto que aquela partida causou no instante em que foi realizada; da relação do passado com o presente da equipe pela qual se torce.
A revisita ao passado vai, ainda, confrontar-se com o passado idealizado, eventualmente congelado, como foi vivido por cada sujeito, que, também, o reelaborou ao “passá-lo adiante” para outras gerações. Alguns autores que trabalham a construção oralizada da memória, ao interligarem os dois conceitos, valorizaram a importância da vida quotidiana na acumulação de fatos de uma dada memória social (LEROI-Gourhan, 1981).
Para Freud, a reexperiência de algo idêntico é, em si mesma, uma fonte de prazer (FREUD, 1969). No entanto, acrescentamos, essa segunda experiência, raramente, se passa da mesma forma, porque os sujeitos não são mais os mesmos. É possível, portanto, que busquem ressignificar a experiência. Em “Crônica de uma arte anunciada”, Gabriel Garcia Márques nos informa, já na primeira página, que o personagem Santiago Nasar vai ser assassinado. Com isso, provoca um deslocamento de sentidos do leitor de “o que vai acontecer” para “por que aconteceu”. Analogamente, quando assiste-se a partidas cujos resultados são previamente conhecidos existe um deslocamento de “o que aconteceu” para “como aconteceu”.
Isso não impede que, inconscientemente, os torcedores possam querer mudar o resultado já sabido, como denunciam manifestações, individuais ou coletivas, que escapam em lances que, não resultando em gol, ameaçam a equipe adversária ou a sua equipe. No entanto, para além do desejo por um resultado imaginário, existe outro forte investimento emocional em como a partida desenvolveu-se, particularmente em momentos emblemáticos, sejam de mera plasticidade, sejam os que poderiam ter mudado a sorte da partida.
Principal construtora da memória das derrotas e vitórias das partidas históricas, a imprensa também vai reivindicar a centralidade do processo quando esse passado é revisitado. Para isso, conta com um repertório de várias camadas, desde a escolha dos personagens dos jogos que serão as testemunhas oculares do passado; o trabalho de pesquisa, que vai definir os momentos que merecem ser enfatizados; a escolha de uma narrativa que combine o retorno à cena dos que vivenciaram a partida em tempo real e a contextualização daquele momento para os não o tenham vivido.
Nesse processo, porém, a imprensa se depara com outros guardiões da memória, como os torcedores que, embora atravessados pelo discurso do jornalismo esportivo, formaram sua própria memória da partida a partir das singularidades da sua relação com aquele evento. A memória aprisionada pela oralidade, que vão procurar transmitir aos mais novos, permite cristalizar os mitos de origem, já que aquela fundamenta a sua transmissão através dos “guardiãos da oralidade”.

Era, ainda, sob o impacto da vitória ou da derrota que, no passado sem a instantaneidade e a velocidade dos meios eletrônicos, os torcedores, já no trajeto do estádio para casa, começavam a construir uma memória oralizada das partidas, elegendo os candidatos a heróis ou construindo os culpados pela derrota. Vitória e derrota não ficavam confinadas às arquibancadas, mas à simbolização mitológica construída em torno delas. O impacto do lugar da vitória/derrota na memória reconstruída tem valor igual, ou maior, do que o resultado do jogo estampado no placar do estádio.
É no processo constitutivo dos resultados que vão sendo construídos mitos que se eternizam para explicar e definir vitórias e derrotas. Como defende David Morley, mais relevante do que o equilíbrio na cobertura dos acontecimentos é o enquadramento conceitual e ideológico básico pelo qual os acontecimentos são apresentados e, “em conseqüência do qual eles recebem um significado dominante/primário” (MORLEY, 1976 Apud HACKETT in TRAQUINA, 1993:121).
Dessa forma, a revisita ao passado, quando se assiste novamente a partidas históricas, é um processo complexo, prenhe de tensões de sentimentos que disputam o imaginário dos sujeitos, como a angulação do narrador, as ênfases dos convidados chamados a atuar como testemunhas oculares e as próprias memórias singulares dos torcedores. A síntese dos fatores constituintes do imaginário, individual e coletivo, também vai variar de acordo com o objeto; e do distanciamento, cronológico e afetivo, que se tem em relação a ele. Quanto mais distante no tempo uma partida, maior número de névoas na memória, mais complexa será a rememoração daquele momento, do que outro que, pela proximidade do presente, guarda maior frescor da quentura dos acontecimentos.
Quando se revisita a seleção contra um adversário estrangeiro, é muito mais provável que um sentido de pertencimento coletivo seja compartilhado por muitos mais do que quando os times em campo são dois clubes brasileiros. Mas, mesmo no primeiro caso, a noção de pertença pode variar, conforme que seleção brasileira está em campo. Sim, porque, conforme a equipe nacional foi sendo atravessada por valores considerados “não tradicionais” por parcelas do público e da imprensa, essa relação foi sofrendo deslizamentos afetivos importantes.
Essas assimetrias ficaram expostas nas diferenças de audiência, por exemplo, entre as reprises das finais das Copas de 1994 e 2002¹, com a seleção do penta superando em 23% o público que reviu à final da equipe do tetra. Tais assimetrias ocorrem porque voltar a assistir a partidas, principalmente àquelas que guardam maior distanciamento cronológico do tempo presente, é uma forma de recuperar a memória.
Nesse processo, não apenas se vê novamente um jogo, mas, também, se reelaboram partidas, afetos e impressões, o que inclui imprecisões, pois, como observam alguns autores, a memória funciona como uma espécie de reconstrução generativa, e não como memorização mecânica (Godoy, 1977). E as diferenças de audiência parecem indicar que, na reelaboração
O investimento afetivo no passado revela um envolvimento ainda forte com a seleção, ou as seleções daqueles períodos revisitados. Até porque o processo de reelaboração dessa memória pela imprensa está imbricado com outros acontecimentos, como a trajetória do futebol brasileiro nos anos seguintes e sua apropriação e sua representação pela jornalismo esportivo.
Dessa forma, assistir a reprises de partidas, principalmente as mais emblemáticas, dificilmente, é equivalente a transportar-se novamente ao mesmo lugar, quer se estivesse no estádio ou no sofá de casa. Trata-se de uma relação em outra dimensão simbólica, portanto, de uma nova relação. O principal fio condutor dessa revisita é a narrativa, seja a original ou uma contemporânea que busca contextualizar o evento para sujeitos que não o presenciaram.
A narrativa, também, é uma forma de jogar. Ela forma parte um tripé, junto com o jogo e o imaginário. É, portanto, sob a complexa combinação desses fatores que cada torcedor vai viver, novamente, ou pela primeira vez – no caso, das novas gerações – a revisita a uma partida. Afinal, se nada é igual quando é revisitado, cada torcedor, ainda que fortemente impactado pela narrativa da imprensa, vai viver a sua própria partida. E, mesmo que essa experiência tenha interseções – quase inevitáveis – com a de outros sujeitos, haverá, fragmentos, registros, lampejos que serão sempre singulares. Trata-se de uma das magias do futebol: permitir a complexa, e intensa, combinação de sentimentos coletivos com a sensação singular de cada torcedor.
Notas de rodapé
Referências bibliográficas
FREUD, Sigmund. Obras completas, Vol. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1969.
Godoy, Jack. The domestication of savage mind. Londres: Cambridge Univesity Press,1977.
HACKETT, Robert A. “Declínio de um paradigma? A parcialidade e a objectvidade nos estudos dos media noticiosos” in TRAQUINA, Nelson (org.). Jornalismo: questões, teorias e “estórias”. Lisboa: Veja, 1993.
LEROI-Gourhan, A. O gesto e a palavra. Lisboa: Edições 70, 1981.
SOUTO, Sérgio Montero. Imprensa e memória da Copa de 50: a glória e a tragédia de Barbosa. Niterói: Dissertação de Mestrado da UFF, 200
Internet: Folha de Londrina




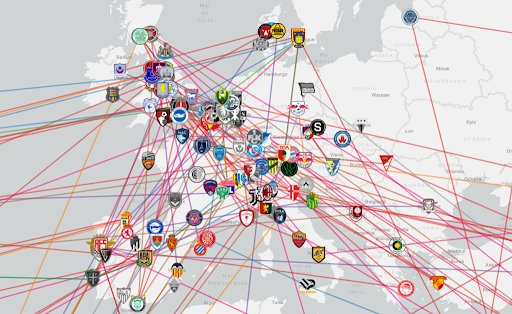
Muito bom meu amiga (INA)