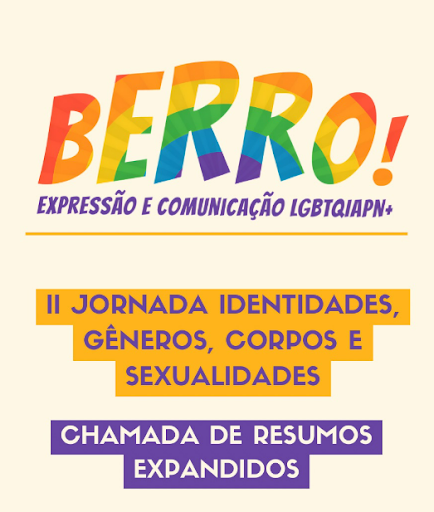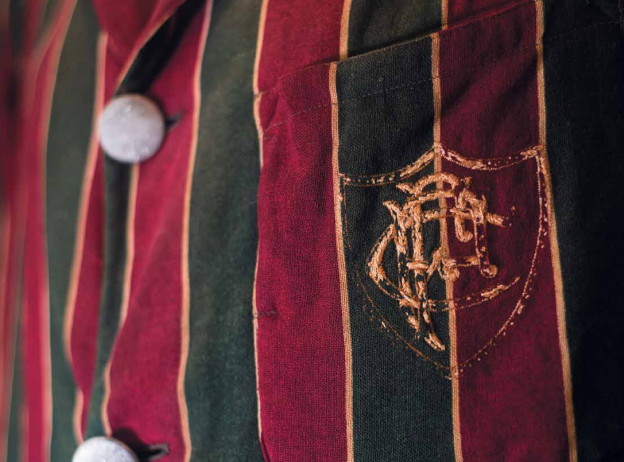Repercutiu enormemente nos últimos dias na Paraíba, de onde escrevo, as declarações de uma subcelebridade brasiliense, dessas com muitos seguidores nas redes sociais, em que ela, ao se revoltar com um grave caso de violência contra a mulher, lembrava a origem do autor do crime e dizia que aquilo era coisa de “paraíba”.
A declaração, óbvio, não pegou bem. Repercutiu pela Paraíba e pelo Nordeste. Causou revolta.
Mas o pior foi a emenda que estava por vir.
Ao responder as críticas iniciais, disse que não fez nada demais. Que “paraíba” era uma mera força de expressão que vinha de “paraibada”, alcunha que segundo ela serviria para se referir a quem faz algum tipo de besteira. “Como por exemplo bater em mulher”, exemplificou.
Vocês entenderam bem, não foi? Para a tal subcelebridade, quem comete um crime faz, no fim das contas, uma “paraibada”. E ela dizia isso jurando que não estava cometendo nenhum tipo de preconceito.
Pois é justo nesse detalhe que eu queria me apegar no presente texto.
A facilidade que as pessoas têm de naturalizar a violência, de minimizar os efeitos do preconceito, de dizer que o alvo dos ataques é que estão exagerando. Ou, em sentido completamente oposto, as dificuldades dessas pessoas em entenderem que algumas expressões cotidianas, aparentemente livres de intencionalidades, tem uma carga terrível. Que, invariavelmente, leva ao preconceito – e à violência – para outros espaços.
Como, por exemplo, ao esporte.
Xenófobos, afinal, nunca se admitem como tal. E, sem se admitir, apenas disseminam o preconceito nas áreas mais distintas possíveis.
E, ao falar dessa questão numa perspectiva esportiva, é impossível não lembrar do famoso caso de Edmundo, à época jogador do Vasco da Gama. Tão longínquo, tão incrivelmente atual.
O ano era 1997. O jogo válido pelo Brasileirão daquele ano, entre o Vasco e o América-RN, era em Natal. O árbitro que acabou expulsando o jogador naquela partida, ainda nos primeiros minutos de jogo, era o cearense Francisco Dacildo Mourão. Mas, para Edmundo, tudo não passava indiscriminadamente de “paraibas”. Fazendo “paraibadas”, oras.
A frase ficou célebre:
– Viemos para a Paraíba e colocam um “paraíba” para apitar – disse ao microfone enquanto deixava o campo de jogo.

Depois, quando a coisa se voltou contra ele, foi mais um a repetir o mantra dos preconceituosos:
– É que no Rio temos o costume de chamar os nordestinos de “paraíba”, só isso.
Só isso, pessoal.
Mas, não é só isso, a gente sabe bem.
Esse preconceito regional regular, naturalizado a ponto de não ser percebido pela maioria da população, gera consequências em todos os cenários possíveis.
Resulta, muitas vezes, numa precarizada cobertura esportiva daquilo que é praticado no Nordeste. Numa mudança de peso daquilo que é notícia para a chamada “grande mídia” – sugiro, a propósito, a leitura de novíssimo artigo de Ana Flávia Araújo (2021) sobre o tema. Numa Série A de Brasileirão pouco nordestina, numa Copa do Brasil cada vez mais anti-democrática e pouco interessada nos clubes fora do “eixo”, e por aí em diante.
Mas o preconceito não para por aí.
Apenas a título de ilustração, queria citar uma experiência que vivi durante minha pesquisa de mestrado, quando certa vez acompanhei torcedores do Botafogo da Paraíba a Ribeirão Preto, para um jogo da Série C do Brasileirão, que valia vaga na Série B do ano seguinte.
Imagine o bonito Estádio Santa Cruz completamente abarrotado.
Milhares de torcedores do time do interior paulista circundando toda a arquibancada e espremendo cerca de 400 paraibanos num pequeno pedaço.
Cânticos, gritos, xingamentos, provocações ao longo de 90 minutos. Em quase todo o tempo, a mensagem era violenta, depreciativa, lembrando o lado supostamente negativo de ser “paraíba”. Falava-se de ignorância, de seca, de cabeças chatas, outros tantos estereótipos. Tudo sob o selo da “brincadeira”, da “simples expressão”, do “hábito”.
Pois não é brincadeira. Não é expressão. Não é modo de falar. É preconceito e violência que reverbera no cotidiano dos paraibanos e nordestinos. Por anos e anos a fio.
Nesta lógica, se me permitem parafrasear Miguel Vale de Almeida (2004) em sua reflexão sobre sinais diacríticos, o ser nordestino não é o outro lado da moeda de ser sudestino, por exemplo. É o lado pior, negativo, inferior, mais desvalorizado, enquadrado de forma genérica sob a pecha de “paraíba”. Numa homogenização, a propósito, que apaga toda riqueza e pluralidade da região.
Isso precisa ser combatido, repelido, ser tratado como de fato é: o mais puro e xenofóbico preconceito regional. Sem mais.
Referências
ALMEIDA, Miguel Vale de. O Manifesto do Corpo. Lisboa, Revista Manifesto, nº 5, pp. 17-35, 2004.
ARAÚJO, Ana Flávia Nóbrega. Até quando precisaremos salvar os times do sudeste e invisibilizar os nordestinos, PVC?. Ludopédio, São Paulo, 2021.