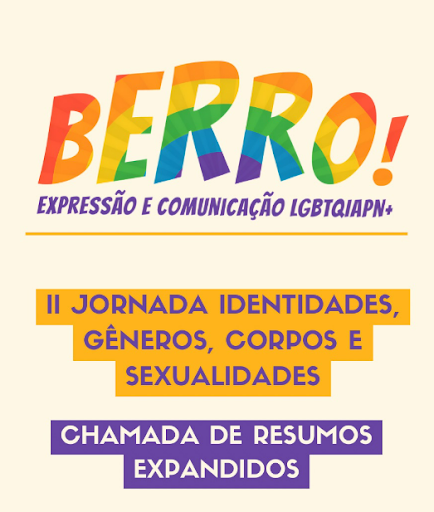Segundo grande parte da imprensa brasileira, o futebol nacional passa por uma grande crise que se tornou inegável após o 7 x 1 contra a Alemanha. Essa crise teria como causas fatores como: a ausência de bons jogadores atuando no Brasil, a falta de investimento nas categorias de base, o modo ultrapassado de gestão dos clubes e os casos de violência envolvendo torcedores etc [1].
Particularmente, a questão da violência nas torcidas virou, nos últimos meses, um tema frequentemente debatido pela imprensa esportiva. Debatido entretanto, de modo superficial, onde as ideias são calcadas no senso comum, na falta de argumentos melhor fundamentados, num desfile de estereótipos e, sobretudo, na vontade de defender um modelo ideal e desejado de torcedor que atenda às demandas de um futebol considerado moderno e “civilizado”.
Nesse processo as torcidas organizadas foram configuradas como as grandes vilãs da história, sendo responsabilizadas pela violência e o esvaziamento dos estádios. Elas são geralmente qualificadas como agrupamentos que se opõem aos “verdadeiros” torcedores que seriam aqueles que vão aos jogos e se comportam de modo ordeiro.
Estamos diante de mais uma luta simbólica pelos “significados do torcer” (TOLEDO, 1999), em que novamente a imprensa toma para si o papel de defender quem seriam os legítimos torcedores que podem ocupar as arquibancadas dos estádios. Para essa defesa, o que se percebe atualmente é uma exaltação de políticas repressivas, meramente punitivas e que frequentemente beiram à arbitrariedade e ao autoritarismo.
Como já demonstrou Ronaldo Helal desde já nas décadas de 1970 e 1980, a imprensa fez constantes referências a crise no futebol brasileiro, crise esta que se fazia notar na “queda de público, a perda do prestígio internacional do nosso futebol, a desorganização administrativa, a fragilidade financeira dos clubes (…)” (1997, 58) [1].
Há, portanto, uma tendência de adestramento do público torcedor. Soluções rápidas, sem mediações, sem diálogos são a base das medidas propostas por grande parte da imprensa esportiva no Brasil que constantemente clama pela implantação do “modelo inglês” de segurança nos estádios, sem sequer mostrar conhecimento mais profundo sobre suas estrutura e implicações.
Sendo assim, o tipo de abordagem que a imprensa esportiva costuma adotar em relação ao tema da violência no futebol praticamente não oferece oportunidade de se promover uma discussão pública que de fato contribua para soluções construídas através do diálogo com os torcedores, considerando-os em seus direitos civis.
Podemos também levantar a hipótese de que o tipo de abordagem dada ao tema da violência, amplifica e alimenta uma atmosfera de medo em torno de alguns jogos, em grande medida porque a mesma violência que é condenada transforma-se em espetáculo nas páginas esportivas, assim como nas telas de TV.
As lutas pelos significados do torcer
Em seu texto “A invenção do torcedor de futebol: disputas simbólicas pelos significados do torcer”, Luiz Henrique de Toledo demonstra que desde seus anos inicias, no Brasil, os cronistas de jornais costumavam relacionar a presença da participação das camadas populares nos jogos como um dos fatores que provocavam o aumento da violência:
(…) a crônica da época da época denunciava a falta de educação esportiva dessas assistências, passando a não noticiar, deliberadamente, a violência que reinava entre os próprios sócios e sportmendos clubes de elite (TOLEDO, 1999, 148).
Com o aumento gradativo da participação popular nas arquibancadas também aumentavam as manifestações de preocupação com o comportamento da massa. Um dos modos de controle foi encontrado nas Torcidas Uniformizadas, criadas na década de 1940. Tais agrupamentos eram formados em sua maioria por sócios dos clubes, oriundos da classe média e sua presença nos jogos costumava ser comemorada pela imprensa da época, já que eles desempenhariam:
(…) um papel dirigente capaz de integrar e regular e até mesmo manter a ordem na assistência dos espetáculos esportivos. Estas torcidas nasceram inspiradas e bastante delineadas pelas fortes motivações ideológicas da época, cuja sensibilidade política estava alicerçada e difundida em torno das ideias de raça, nação, ordem e, sobretudo, juventude. De algum modo, como pode ser notado, estas primeiras organizações torcedoras evocam tais aspirações nacionalistas com grande anuência e chancela dos setores da elite que ocupavam os cargos dirigentes no âmbito dos esportes, os meios de comunicação e parte dos aparelhos dos Estados (TOLEDO, 1999, 150).
No final da década de 1960, outro modelo de torcer surge no cenário futebolístico. As torcidas organizadas que diferentemente das uniformizadas, eram formadas por indivíduos de diversos setores e estratos sociais, oferecendo, portanto, uma maior complexidade em sua estruturação. As organizadas nascem em um contexto politicamente turbulento no Brasil em que os direitos civis estavam correndo o risco constante de serem cerceados pela ditadura militar. A Gaviões da Fiel foi o primeiro desses novos agrupamentos:
Surgidos em fins da década de 1960, à sombra de uma nova etapa de expansão do futebol profissional e do estabelecimento de um torneio de alcance nacional, que se potencializava com o advento da televisão na emissão ao vivo das partidas, Os Gaviões da Fiel constituíam um embrionário agrupamento que estabelecia as bases para um novo tipo de associação e organização no interior do futebol. Inicialmente distanciados e dissidentes do clube, reclamavam a si o direito de representatividade, de participação e de pressão sobre uma administração considerada autoritária(HOLLANDA, 2008, 22).
Embora tenham uma formação mais hibrida, esses agrupamentos são compostos por um grande contingente de jovens do sexo masculino e oriundos de zonas periféricas. A partir do final dos anos de 1980, uma série de episódios violentos envolvendo as torcidas organizadas contribuem para que elas passem a ser vistas como anomalias do futebol. Essa imagem negativa se agravaria com a morte de Cleofa Sóstones Dantas da Silva, então presidente da Mancha Verde, em 1988, em frente à sede dessa torcida. Em 1995, também foi um ano marcante já que nele ocorreu a chamada “Batalha campal do Pacaembu” que consistiu em um confronto entre torcedores do Palmeiras e do São Paulo, ocorrido após uma invasão de campo e que resultou na morte de um jovem [2].
Esses episódios marcaram uma intensificação na representação das torcidas organizadas como grupos formados em sua maioria por marginais, jovens desocupados que fazem do futebol uma mera oportunidade para praticar vandalismo e cometer crimes. Fez-se surgir um clamor pelo banimento da presença das organizadas nos estádios, o que de fato ocorreu em São Paulo que proibiu a entrada da Torcida Mancha Verde.
A proximidade da Copa do Mundo de 2014, fez crescer o coro contra as organizadas, sobretudo, após a briga ocorrida entre torcedores do Vasco da Gama e Atlético Paranaense, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. Destaco as avaliações feitas por dois colunistas que se mostraram bastante preocupados com os eventos e a chegada da Copa do Mundo:
É evidente que além de fichar e encarcerar os baderneiros, é preciso punir também – e rigorosamente – os clubes (…) corremos o risco de ver cenas dantescas como as da Arena Joinville até mesmo durante a Copa do Mundo, ano que vem (Grifos meus, O Globo, 10/12/2013, p. 39) [3].
É esta a vergonha para todo país – dois dias depois do sorteio dos grupos da Copa do Mundo e a seis meses do início da Copa (O Globo, 09/12/2013) [4].
O interessante de se perceber é que ao mesmo tempo em que se condena a violência, ela é mostrada com todas as cores, num espetáculo com closes de rostos sangrando, de chutes e outras manifestações corpóreas de agressão.
A briga ocorrida nas arquibancadas da Arena Joinville, durante Vasco X Atlético Paranaense foi narrada durante a transmissão do jogo. Embora o narrador diga que “são cenas de uma batalha campal que não gostaríamos de estar registrando num domingo de futebol”, o fato é que as imagens– muitas das quais bastante fortes –foram mostradas ao vivo, como um espetáculo [5]. Chama a atenção os closes dados pelas câmeras de TV no momento em que um dos torcedores leva uma sequência de chutes na cabeça. [6] No dia seguinte as manchetes dos jornais impressos também davam ênfase a essa mesma cena.


O mesmo tipo de abordagem se viu na “Batalha do Pacaembu” também mostrada ao vivo [7] e repetidas vezes em matérias posteriores.

O discurso adotado por parte da imprensa mistura recriminação e clamor por punição, mas, essa mesma imprensa não cessa de mostrar imagens fortes de pancadarias nas telas de TV e nas páginas impressas, fazendo da violência mais um espetáculo a ser mostrado, visando atrair a atenção do público receptor [8].
Para falar sobre e mostrar a violência, a imprensa vale-se da “crença socialmente compartilhada na utilidade da notícia, o jornal e, por extensão, o jornalista, dispõem atualmente, de uma autoridade específica que lhe permite participar, à sua maneira, da discussão dos problemas sociais e, mais que isso, da definição de sua prioridade (SILVA, 2010, 154).
Fazendo uso dessa autoridade, tornou-se recorrente os pedidos da imprensa por punição e banimento dos “vândalos” que manchariam o espetáculo esportivo e provocariam o afastamento do “verdadeiro” torcedor dos estádios. Esse aspecto fica evidente na coluna de Fernando Calazans, publicada após a prisão de mais 100 torcedores envolvidos em brigas ao redor do Estádio Engenhão durante o clássico Fluminense X Vasco, em fevereiro de 2015:
A luz que se acende, ainda de forma tímida, é a prisão de 118 torcedores, os maiores de idade transferidos para o complexo penitenciário de Bangu, os menores encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os primeiros vão ser indiciados por formação de quadrilha. Infelizmente é o que se deve fazer (O Globo, 25/02/2015) [9].
Discursos como esses são comuns de serem lidos e ouvidos da boca de muitos jornalistas, comentaristas e cronistas esportivos, sendo raras as vozes dissonantes. A punição é entendida como o único caminho a ser seguido caso se queira combater os casos de violência envolvendo torcedores. E com poucos questionamentos, se evoca o exemplo inglês como modelo a ser adotado no Brasil, concebendo-o como mais eficaz já que teria livrado os estádiosda Inglaterra da ação dos hooligans.
Entretanto, cabe ressaltar que o modelo inglês – e outros semelhantes adotados em algumas partes da Europa – de combate à violência no futebol vem sendo questionado por estudiosos já que se fundariam em ações repressivas que se limitam a vigiar e controlar indivíduos considerados suspeitos ou de risco, muitas vezes a partir de critérios pouco claros para tais definições: “lutar contra os sintomas do hooliganismo, enfim, acabou por focalizar as políticas de controle sobre o único objetivo de proteger a ordem pública em detrimento da ordem democrática” (TSOUKALA, 2014, 29).
Tem-se chamado atenção para dados que indicam que o Brasil é “a nação que mais mata por causa de futebol em todo o planeta”. Mas esquece-se que o Brasil é um dos países onde mais se mata no mundo. Portanto, é preciso analisar os casos de violência no futebol como fenômeno que não é restrito a esse universo esportivo, mas ao contrário é parte integrante da violência que perpassa a sociedade brasileira como um todo.
E mandar para a cadeia não se mostra a melhor solução, afinal apesar do grande número de prisões, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, segundo o Informe da Anistia Internacional/2014/15. O estado dos direitos humanos no mundo. Esse documento conclui que parte dessa violência também é derivada de excessos e abusos cometidos pela polícia, como os que ocorreram nos protestos que antecederam a Copa do Mundo:
Diante de questões como essas, é bastante temeroso, celebrar a prisão de mais de 100 torcedores, envolvidos em brigas, a partir do enquadramento penal de formação de quadrilha, sobretudo sabendo-se da falta de uma investigação comprobatória. Além disso, é válido lembrar que o Brasil já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, e nos últimos 15 anos o país prendeu 7 vezes mais que a media mundial. As cadeias estão superlotadas e povoadas de indivíduos que cometeram delitos cuja pena poderia ser cumprida de modo alternativo. Prender por envolvimento em brigas está longe de ser a melhor solução. Ao contrário, devido as suas condições precárias as cadeias no Brasil são uma escola de formação de marginais.
Outra questão quase sempre esquecida pela abordagem da imprensa diz respeito ao despreparo do policiamento realizado nos estádios e seu entorno. Esse despreparo se faz notar na truculência usada em relação aos torcedores:
Quem chega a um estádio de futebol em dia de um jogo minimamente importante tem a impressão de chegar a uma praça de guerra (…) Embora haja centenas de policiais espalhados em volta do estádio, todavia, eles não garantem um mínimo de respeito ao direito dos torcedores (…) É que no Brasil ‘segurança’ tem um significado perverso: ela é usada como sinônimo para policiamento e até mesmo para a violência pura e simples. Sendo assim, desprezam-se fatores essenciais constitutivos da segurança pública nos estádios (ALVITO, 2014, 41).
E como uma batalha alguns jogos são noticiados pela imprensa, como foi o caso de Flamengo X Botafogo, válido pelo campeonato carioca de 2015. A matéria intitulada “Segurança máxima. Tudo pela paz” afirma que “uma operação de guerra é montada para o clássico de domingo, entre Botafogo e Flamengo, válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca e comemorativo do aniversário de 450 anos do Rio” (Grifos meus, O Globo, 27/02/2015, p.32).
Para ir a um jogo assim representado é necessário que ele seja decisivo ou contenha algum elemento especial, como foi o caso de Flamengo X Botafogo, em que se comemorava os 500 anos do Rio de Janeiro e era a partida pela qual o jogador Léo Moura atuaria pela última vez em um clássico, antes de sua transferência para os Estados Unidos.
Ao invés de se oferecer uma atmosfera de segurança, a presença de policiais armados e munidos de cassetetes nos passa a sensação de desconforto, afinal qualquer mínimo indício de tumulto pode gerar uma reação desmedida por parte do policiamento. Às vezes dá medo torcer:

Enquanto isso, louva-se a inciativa de setores com torcida mista, como ocorreu no clássico Gre-Nal – e pede-se que a família volte a frequentar os estádios, sendo que por trás desse termo “família” costuma-se ocultar uma série de pressupostos moralizantes e de adestramento [10].
Público ordeiro e bonito de se ver é aquele buscado pelas telas de TV e pelas câmeras de fotografia:mulheres segurando crianças, beijando os maridos, ou namorados. Amigos se abraçando, idosos e idosas presentes nas arquibancadas etc. Enfim, pessoas consideradas “civilizadas” que sabem torcer e que contribuem positivamente para o espetáculo futebolístico.
O papel desempenhado por grande parte da imprensa esportiva é o de não oferecer – ou oferecer precariamente – uma análise dos fenômenos a partir de uma perspectiva que proporcione um diálogo que viabilize uma discussão séria de um dos problemas que certamente aflige o futebol brasileiro. E precisamos estar atentos para as limitações das abordagens da imprensa:
Quando se tenta operar analiticamente com noções como violência, crime e corrupção, percebe-se que permanecemos muito próximos dos problemas e alternativas imediatas das políticas públicas e da denúncia crítica politicamente correta, mas sob o preço, sempre muito alto para a exigência de objetividade, de favorecer o chamado ‘pensamento único’ (…) Ao contrário de favorecer a compreensão do que se passa, corremos o risco de apenas participarmos de sua reprodução (MISSE, 1999, apud SILVA, 2010, p. 23)
As soluções não podem ser concebidas de modo superficial. Reduzir o problema da violência no futebol à ação das organizadas indica:
- Acreditar que somente indivíduos vinculados a esses grupos são capazes de cometer atos violentos, hipótese, aliás, bastante questionável.
- Esquecer que a grande maioria das organizadas não possui um cadastro completo de seus membros e que é muito fácil comprar uma camisa ou objetos com os símbolos desses agrupamentos sem nunca tê-los frequentado.
Reduzir os casos de violência no futebol à ação das organizadas e pedir seu banimento também é esquecer que se tratam de atores sociais muito importantes na história do futebol nacional. Atores que, aliás, tiveram participação relevante para o ambiente festivo e emocionante tão valorizado pelas notícias esportivas. Com isso, perde-se a oportunidade de buscar estratégias de segurança pública, fundadas não somente no enfrentamento.
Muitos casos de violência envolvendo torcedores podem ser plenamente cobertos pelo Código Civil tornando desnecessária a criação de leis específicas para o futebol. Quem mata alguém durante algum confronto de torcedores, deve ser punido por homicídio como previsto em Lei. Assim como quem promove arruaça ou outras formas de agressão também devem arcar com as consequências legais desses atos.
Para que haja prisão é preciso antes de tudo de provas concretas obtidas a partir de investigação e não de modo arbitrário. E se a imprensa de fato quiser contribuir para a diminuição da violência no futebol, é importante que ela atente para uma série itens que também estão diretamente relacionados à segurança: a dificuldade de compra dos ingressos, assim como seus altos preços; os péssimos serviços oferecidos nos estádios (preços abusivos de comida e bebida, sujeira, filas gigantescas para se entrar no estádio etc.); a ausência de um esquema de transporte público que possibilite a chegada e retorno dos torcedores, entre tantos outros problemas.
Como já demonstrou Reis (2010) o Estatuto do Torcedor não é devidamente cumprido e poucos são os torcedores que conhecem seus direitos previstos nesse documento. Isso em grande medida ocorre porque as Leis no Brasil são feitas por um pequeno grupo de especialistas e somente por eles compreendida e dominada. Tratam-se de leis impostas de cima para baixo, sem interlocução pública:
Já no Brasil, ao contrário, o sistema jurídico não reivindica uma origem ‘popular’ ou ‘democrática’. Ao contrário alega ser produto de uma reflexão iluminada, uma ‘ciência normativa’ que tem por objetivo o controle de uma população sem educação, desorganizada e primitiva. Os modelos jurídicos de controle social, portanto, não tem nem poderiam ter como origem ‘a vontade do povo’ enquanto reflexo do seu estilo de vida, mas são resultados dessas formulações legais especializadas, legislativa ou judicialmente (KANT DE LIMA, 1999, 24).
Por isso, é preciso incorporar o diálogo com os torcedores e não criminalizá-los para que se busque soluções para as violências no futebol brasileiro, entendendo que os torcedores podem ser “atores capazes de desenvolver mecanismos de autorregulação ou capazes de se erigir como interlocutores valiosos aos olhos dos tomadores de decisão” (TSOUKALA, 2014, 29).
Não há uma única forma de torcer, não há o “verdadeiro torcedor”, por mais que a imprensa esportiva queira construir essa imagem idealizada e que obedece às demandas de um futebol que se deseja “civilizado”, um espetáculo higienizado para se mostrar. Afinal, torcer não é crime.
[1] Como já demonstrou Ronaldo Helal desde já nas décadas de 1970 e 1980, a imprensa fez constantes referências a crise no futebol brasileiro, crise esta que se fazia notar na “queda de público, a perda do prestígio internacional do nosso futebol, a desorganização administrativa, a fragilidade financeira dos clubes (…)” (1997, 58)
[2] A “Batalha campal do Pacaembu” foi um dos mais graves confrontos entre torcedores. O episódio ocorreu após o fim do jogo decisivo entre São Paulo x Palmeiras pela Super Copa São Paulo de Futebol Júniors, em 1995, no Estádio do Pacaembu. A briga resultou na morte de um torcedor e mais de 100 feridos. Muitos dos objetos usados noconfronto, como pedras e pedaços de madeira, foram pegos nos entulhos de uma obra que estava sendo feita no Pacaembu.
[3] Boçais e omissos. Renato Mauricio Prado
[4] Selvageria no país da Copa. Fernando Calazans.
[5] É comum que a imprensa transforme a violência em espetáculo, basta lembrarmos da cobertura do Caso Eloá e do sequestro do ônibus 174.
[6] Esse vídeo pode ser acessado no YouTube.
[7] O programa Fantástico fez uma matéria especial sobre esse acontecimento que pode ser visto no YouTube.
[8] É válido lembrar que há um público receptor ávido por imagens de violência. Sobre esse aspecto ver SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Trad. Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. Sobre a participação do público não como mero receptor, mas também como produtor das mensagens ver MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2001.
[9] Fernando Calazans. Ódio em vez de paixão.
[10] A Conmebol em parceria com algumas emissoras de TV promove nos jogos da Taça Libertadores a inciativa Bem vinda a família. Segundo o site dessa instituição: “Bem-vinda Família” é uma campanha de responsabilidade social empresária pan-regional promovida pela CONMEBOL e FIC Latin America que tem por objetivo impulsionar o regresso das famílias aos estádios de futebol para desfrutar deste esporte em um ambiente sem violência. Cabe perguntar o que se entende por família.
Referências:
ALVITO, Marcos. A madeira de lei: gerir ou gerar a violência nos estádios brasileiros? In: HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de; REIS, Heloisa Baldy. Hooliganismo e Copa de 2014. Rio de Janeiro: 7Letras, 2014.
HELAL, Ronaldo. Passes e impasses. Futebol e cultura de massa no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1997.
KANT DE LIMA, Roberto. Polícia, justiça e sociedade no Brasil: uma abordagem comparativa dos modelos de administração de conflitos no espaço público. Revista de Sociologia e Política. N. 13: 23-38, Nov., 1999.
REIS, Heloisa Helena Baldy. O espetáculo futebolístico e o Estatuto de Defesa do Torcedor. Rev. Bras. Cienc. Esporte. Campinas, v.31, n.3, p.111-130, maio 2010.
SILVA, Edilson Márcio almeida da. Notícias da ‘violência urbana’: um estudo antropológico. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 2010.
TOLEDO, Luiz Henrique de. A invenção do torcedor de futebol: disputas simbólicas pelos significados do torcer. In: COSTA, Marcia Regina da (et al). Futebol, espetáculo do século. São Paulo: Musa Editora, 1999.
TSOUKALA, Anastassia. Administrar a violência nos estádios da Europa: quais racionalidades? In: HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de; REIS, Heloisa Baldy. Hooliganismo e Copa de 2014. Rio de Janeiro: 7Letras, 2014.