Por Antonio Jorge Gonçalves Soares*
Roberto DaMatta demonstrou que o futebol como drama permite ler nossas tramas e dilemas culturais, nossa moralidade, nosso autoritarismo, nossa camaradagem, nossos valores não- igualitários e, ao mesmo tempo, esse esporte fornece uma das poucas experiências na qual a regra vale para todos. O futebol se tornou uma instituição nacional. O futebol é tão brasileiro quanto “Deus”. Ele se tornou um elemento simbólico, uma espécie de gramática popular que permite falar, debater e brigar, até certo ponto, sempre até certo ponto, sobre os temas sociais e políticos. Pois, quando o debate chega à certa fervura, surge o velho ditado popular que “futebol, política ou religião não se discute!”. Essa é mais uma expressão que revela nossa moralidade política, pois tal adágio surge nos momentos de divergência e conflito pela turma “do deixa disso”, isto é, “deixa como está e nada se resolve”. Essa não-resolução, esse “empurrar com a barriga”, é a forma de abolição de consensos civilizados e provisórios, como exigiria a moralidade numa cultura democrática.
Conflito aqui não é visto como espaço de debate que produz acordos, conflito aqui é motivo de ruptura, de ressentimento, de exclusão ou de desejo da morte do “outro”. Somos a democracia do Flamengo e Vasco, do Fla-Flu, do Corinthians e Palmeiras, só a vitória importa! O vice no futebol é o “primeiro dos últimos”. Na política é o inútil que não tinha capital simbólico para se tornar presidente. O empate é sempre algo não desejado. Aqui o “tudo ou nada” é a regra que anima espíritos e mentes da democracia brasileira e do nosso futebol. Ao derrotado, resta a humilhação e o ritual de luto, não importa a luta. Todavia, o futebol também permite um “flash de espírito democrático”, pois pode haver alternância de poder: no próximo jogo (ou campeonato), a derrota pode ser transformada em vitória. Quando isso acontece, a chance do escárnio é revertida, pois, como diria Chico Buarque, “Quando chegar o momento; Esse meu sofrimento; Vou cobrar com juros”. No campeonato da política, aqueles que pareciam ter ido para a quarta divisão, entraram em campo na primeira liga como azarões, ganharam e estão cobrando com juros os poucos avanços dados na direção de um estado de proteção social.

Aqui, os vitoriosos são venerados mesmo por aqueles que não partilharam os ganhos reais da vitória e nem das rachadinhas. O vitorioso apenas divide a glória simbólica com os personagens figurantes que estiveram ao seu lado no jogo das eleições. Já cansei de ouvir nas rodas populares a seguinte sentença: “Meus candidatos foram campeões, não adianta chorar”. A política aqui difere um pouco do futebol, pois o torcedor é ensinado a ser Flamengo ou qualquer outro time desde pequeno, às vezes ainda no berço. Infelizmente, o interesse pela política não recebe o mesmo tratamento socializatório em nossas terras. Com isso, o debate da política se transforma numa contenda de futebol apenas durante as partidas eleitorais. Depois, a vida volta ao normal e ninguém quer saber de política; afinal, isso “não se deve discutir isso nessas paragens”, não é? Se o debate não existe, as torcidas continuam ativas nas redes sociais, temos a “Força Jovem Cloroquina” e “Torcida Organizada Antifascista”.
Não é à toa que o protestantismo neopentecostal, com incorporação de elementos mágicos de cura, prosperidade e salvação, se expandiu tanto no Brasil. A gramática do futebol é a mesma da religião. Nisso essas instituições se aproximam. Você está do lado de “Deus ou do diabo?”; “Você quer ser um derrotado ou um vencedor?”. Essas questões, sem dúvida, não subestimam a eficácia simbólica que tais religiões tenham na vida dos indivíduos, até porque a expansão delas tem a ver com a experiência de sucesso individual de parte de seus adeptos. Tais religiões também fornecem uma rede de apoio, dão sentido a vida dessas pessoas e conferem algum nível de dignidade pela existência. Afinal, Deus está olhando por eles e observando seus sacrifícios nessa “vida”. A contrapelo desse sentimento o estado não fornece essa sensação ao cidadão comum.
A expansão do evangelismo mágico-religioso se relaciona com a cultura de desesperança e desproteção que o Estado brasileiro fornece ao cidadão comum. Aqui temos a adjetivação corrente de “cidadão comum”, porque outros são “incomuns”, se tornam “superpessoas” (no sentido damattiano) ou já são de berço escolhidos por “Deus”. Quem nunca ouviu: “Eu dei a sorte de ter nascido numa família rica, que culpa tenho?” Existem outros caminhos, porém, para se tornar uma superpessoa no Brasil. Observe que nosso craque bilionário Neymar e seu pai, saídos do “brejo da cruz”, se tornaram cidadãos incomuns. Não mais pertencem à ralé, podem tratar de suas tramoias de sonegação fiscal diretamente no Palácio do Planalto. Se qualquer um “comum” cair na malha fina do Imposto de Renda não será recebido pelo superministro da economia Paulo Guedes e nem pelo presidente da República. Até porque o “leão” sabe quem vai devorar, quem ele vai mordiscar e quem merece ser adulado; em geral, cidadãos incomuns e o capital financeiro. A naturalização da hierarquia, “cada coisa no seu lugar” e “cada qual com seu cada um “, são expressões da “sorte dos escolhidos”, daqueles que receberam a “bênção de Deus” com o aval do Estado brasileiro.
Lúcio Kowaric** observa que, nos Estados Unidos, os vulneráveis são vistos pelos conservadores e progressistas, respectivamente, como culpados ou não-culpados da própria desgraça que estão submetidos. A critica conservadora indica que o suporte do estado gera preguiça, marginalidade e alimenta o “Welfare dependency”. Na França, independentemente dos setores da direita conservadora ou da esquerda progressista, o Estado francês e a sociedade são vistos como responsáveis por todos os cidadãos e devem fornecer meios de sobrevivência dentro do espírito universalista republicano aos vulneráveis.

A questão é: quem deve ser protegido pelo estado? Para direita, apenas os “franceses”, os imigrantes devem ser excluídos e deportados; para a esquerda, todos os vulneráveis que vivem no território merecem políticas de proteção. Enfim, a responsabilidade é do Estado. No Brasil, teríamos dois mecanismos de controle e acomodação social em relação aos vulneráveis, além da baixa capacidade de proteção social. Os excluídos não são responsabilizados pela própria desgraça, mas pelo inevitável azar. Kowaric nomeia esse mecanismo de naturalização dos acontecimentos, a desgraça individual ou de grupos excluídos é produto da má sorte que recai aleatoriamente sobre uns e não sobre outros. Ser cidadão comum, um “descidadão” ou um supercidadão é uma inevitabilidade aleatória e histórica. O outro mecanismo é nomeado como neutralização. Refere-se aos processos sociais que legitimam a hierarquia e a subalternização dos vulneráveis no Brasil. Isso ocorre através das formas sutis ou explícitas de evitação e apartação dos vulneráveis da vida cotidiana, dos bens econômicos, culturais e de consumo.
Com a lição de DaMatta e de Kowarick, podemos entender a voz de nossos representantes no governo diante da pandemia nesse futebol da política. A fala do presidente representa a ausência de responsabilidade do Estado diante da pandemia. Diz ele sobre as mortes, “lamento, mas é o destino de todo mundo”, “lamento, eu sou Messias, mas não faço milagres”, “Não sou coveiro”, “vamos tocar a vida”. Assim, Bolsonaro ratifica que o destino do cidadão comum é uma questão de sorte ou de azar, “o vírus tá aí, o que posso fazer, pô?!”, diz o presidente, ausentando-se de responsabilidade sobre o inevitável destino de cada um. Os cemitérios e os negócios funerários estão em alta, passamos dos cem mil mortos e os estádios de futebol se transformaram num teatro sem plateia. No sábado, dia 8, os torcedores do Palmeiras se aglomeraram na porta do estádio para comemorar, com e sem máscara, o título paulista. No clima da alegria palmeirense, o presidente da república usou a redes sociais para parabenizar seu suposto time. Sobre os cem mil mortos, nenhuma palavra em rede nacional. Afinal na lógica do presidente estamos apenas diante de uma fatalidade ao perdermos cem mil torcedores.
*Antonio Soares é professor titular da Faculdade de Educação da UFRJ
**Artigo “Sobre a vulnerabilidade socioeconômica e civil…”, publicado em 2003 na Revista Brasileira de Ciências Sociais.
Esse artigo foi publicado originalmente no Quarentena News.

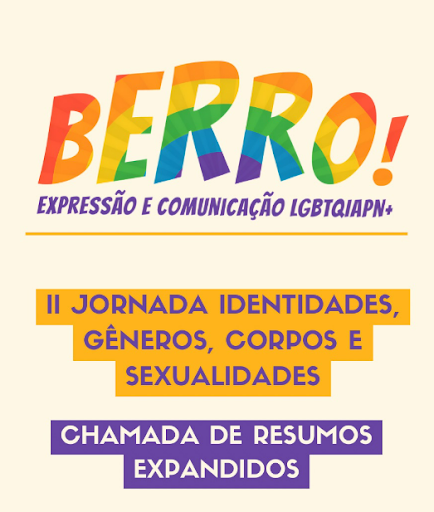

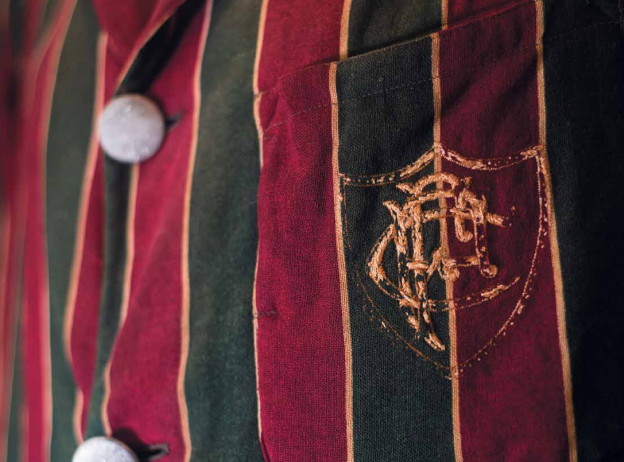
2 thoughts on “Para não dizer que não falei de futebol: menos cem mil torcedores”