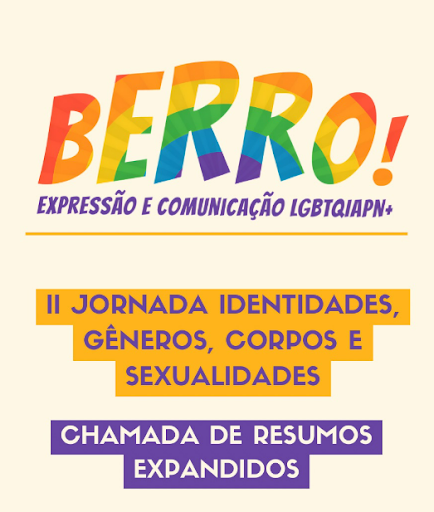Em um episódio destacado de suas Confissões, Santo Agostinho faz um relato de um furto de peras na vinha de um vizinho. Ele estava entre amigos e não roubavam para comer as frutas. O prazer consistia em praticar o que lhes agradava, “pelo fato do roubo ser ilícito”. Atormentado por esse gesto quando tinha apenas 16 anos, Santo Agostinho dedicou boa parte de sua vida e obra a buscar as origens do mal.
O que isso teria a ver com o futebol brasileiro? Ora, durante algumas décadas louvávamos os jogadores que se utilizavam de artifícios de dissimulação para enganar o árbitro. Isto era considerado “malandragem”, como uma marca de nossa suposta astúcia e nos deleitávamos com eles. A diferença para o ato que tanto afligiu Santo Agostinho estaria centrada no fato de que estes logros objetivavam trazer algum benefício para o atleta, seu time e torcedores.
De uns anos para cá, as arbitragens passaram a punir com cartão amarelo atletas que simulam faltas. E com os recursos cada vez mais sofisticados e precisos de transmissão televisiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julga a posteriori agressões ou simulações não percebidas pela arbitragem no momento da partida.
Desta forma, as disputas estariam se tornando mais “éticas”, com a repressão aos recursos dissimulatórios. As crescentes críticas por parte da imprensa e da torcida a jogadores que simulam faltas também demonstram que o “prazer pelo ato ilícito” passou a ter uma conotação moral negativa, como um “mal” que deve ser punido.


Este processo confirmaria o “processo civilizador” estudado pelo sociólogo alemão Norbert Elias, indicando que estamos diante de um movimento de controle de supostas pulsões primárias que estimulariam o engano e a dissimulação.
Mas no universo do futebol temos um engano que faz parte das regras e continua sendo valorizado, ainda que ande meio escasso no Brasil: o drible. Se, por um lado, o processo civilizador, nos termos de Elias, mudou a maneira de apreciar o esporte, indo na direção de uma competição mais “ética”, por outro estaríamos sentindo falta da dissimulação legal proporcionada pelo drible, que nada mais é do que um engano.
O famoso drible de corpo de Pelé em Mazurkiewicz na partida contra o Uruguai na Copa do Mundo de 1970 é até hoje lembrado como um dos momentos mais marcantes da história deste esporte. O belo romance O Drible, de Sérgio Rodrigues, nos brinda com uma descrição ímpar deste lance, tornando-o ainda mais emblemático.
No entanto, é revelador observarmos que dentro do processo civilizador, que busca controlar as simulações, o drible, artifício legal deste esporte, tenha se tornado algo mais raro justamente no país que se orgulhava de praticar o tal do “futebol-arte” e ter um estilo de jogo “dionisíaco”, conforme colocou certa vez Gilberto Freyre.
Uma coisa não deveria influenciar a outra, como parece não ter interferido na Europa, centro do processo estudado por Elias. Lá, temos a sensação de que os dribles continuam acontecendo. E essa pode ser uma das razões para que as partidas dos campeonatos europeus façam sucesso entre nós. O drible é uma das graças do futebol. Sem dribles, as partidas tornar-se-iam mais monótonas.
Se, por um lado, o drible pode derrubar o esquema tático adversário, por outro ele carrega em si uma dose inevitável de risco, já que, se não for exitoso, pode acarretar em benefício ao adversário. O futebol brasileiro está passando por um período de escassez de grandes talentos, e isso poderia explicar a diminuição de dribles. Mas o problema não poderia ser também o resultado de um excessivo receio de perder que foi tomando conta do nosso futebol? Se o drible traz consigo o risco, o medo exagerado de perder faz com que se descarte seu uso. Esta é uma hipótese que merece investigação.
Este artigo foi publicado originalmente na edição de 15 de maio de 2016 do jornal ‘O Globo’. Clique aqui para ver a versão impressa do texto.