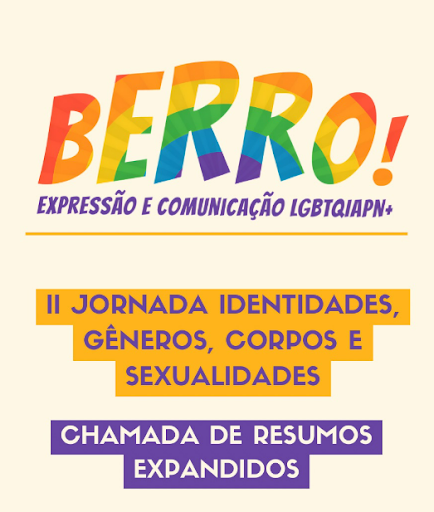Que as desigualdades de gênero permearam a história das mulheres no futebol – não só no Brasil, mas também no mundo –, muitas autoras (e autores) já demonstraram. A trajetória da modalidade no país está repleta de episódios que corroboram com essa afirmação. O futebol de mulheres foi ironizado, ridicularizado, apresentado ao público de em tom jocoso e encarado com curiosidade. Já circularam declarações médicas de que a prática poderia afetar a saúde feminina, com preocupação especial à capacidade de gerar filhos. O fato de existirem mulheres jogando bola se tornou caso de polícia, com Decreto-Lei e deliberação do Conselho Nacional de Desportos (CND) garantindo a proibição do esporte em território nacional. Na imprensa esportiva, discursos envolvendo a ideia de que elas seriam masculinizadas, de que a modalidade era praticada apenas por lésbicas ou violenta em demasia para os “corpos frágeis” foram a realidade durante algum tempo. Representações estereotipadas, imposições de padrões de feminilidade dominantes, sexualização e objetificação também.
Por isso, o debate se revela necessário, assim como o aprofundamento da noção de gênero enquanto uma categoria de análise. Em busca da compreensão sobre o que se trata o conceito, o apontamento de Joan Scott (2019, p. 54), para quem o gênero “é utilizado para designar as relações sociais entre os sexos”, é fundamental. Segundo a pesquisadora, o seu uso rejeita justificativas biológicas e aponta para a compreensão sobre ser uma maneira de indicar a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres. “O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado” (Scott, 2019, p. 54).
As justificativas biológicas as quais a autora faz referência são observadas em diversos momentos da trajetória feminina nos esportes. A partir dessa perspectiva, é possível identificar as construções sociais – convenientes aos arranjos patriarcais –, que tomam com base aquilo que a sociedade e a cultura definem como padrões de feminilidade e masculinidade. Uma possível característica biológica das mulheres, ou seja, a capacidade de gestar, foi usada como um argumento para impedi-las de exercer uma atividade social e cultural que é a prática esportiva. O mesmo pretexto foi escolhido para atestar uma suposta fragilidade feminina e a falta de resistência física para a disputa de uma modalidade “violenta” além da conta, a qual, conforme este pensamento, só poderia ser realizada por homens, que podem resistir em razão da virilidade, capacidade corporal, resistência e força. Isto quer dizer que marcadores biológicos foram trazidos para a esfera dos papéis sociais com o objetivo de forjar e reproduzir aspectos da dominação masculina.
As relações de poder baseadas na diferença sexual e na construção dos padrões de gênero (cisheteropatriarcais) no campo esportivo se revelam nítidas quando, por exemplo, Estado, imprensa, confederação, federações e clubes – entidades que exercem poder de diversas maneiras e em muitos espaços – se uniram para impedir o avanço do futebol feminino e, posteriormente, se mostraram, de certa forma, indiferentes ao desenvolvimento da modalidade, por exemplo, com a invisibilidade midiática do futebol de mulheres e falta de iniciativas das entidades esportivas e do setor público no que se refere tanto à prática do futebol feminino quanto à profissionalização das atletas.
Diante de um cenário em que um grupo social, as mulheres, era minoritário, possuía uma representatividade mínima e ocupava raros espaços de decisão, o poder exercido pela maioria de homens em posições de liderança prevaleceu, em uma demonstração de como as relações de gênero nas disputas de poder podem ser identificadas na realidade. Para corroborar com tais informações sobre a atuação minoritária das mulheres no futebol, o relatório da Fifa, Women’s football – Member Associations Survey Report 2019, indicou que o número de jogadoras adultas (com mais de 18 anos) registradas no Brasil é de 2.974, e que de representantes mulheres em comitês executivos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é de zero, de um total de nove membros. Em 2022, a ex-jogadora Aline Pellegrino se tornou coordenadora de competições femininas e coordenadora de seleções femininas da CBF, sendo uma mulher que ocupa uma posição de gestão na entidade.
É importante destacar que o conceito de gênero e o uso do mesmo enquanto uma categoria vem se disseminando desde meados da década de 1980 e no decorrer da de 1990, “em decorrência do impacto político do feminismo e de novas perspectivas de análise” (Moraes, 2013, p. 99). Para Piscitelli (2002, p. 1), que o considera “instigante e desafiador”, “parte significativa da atração exercida por esse conceito reside no convite que ele oferece para um novo olhar sobre a realidade, situando as distinções entre características consideradas femininas e masculinas no cerne das hierarquias presentes no social”.
Conceito de gênero e movimento feminista
Scott (2019, p. 50) pontua que “no seu uso mais recente, ‘gênero’ parece ter aparecido primeiro entre as feministas americanas que queriam insistir no caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo”. Assim, o papel do movimento feminista no reconhecimento das desigualdades de gênero nas relações de poder que sujeitam as figuras femininas à dominação masculina é notável.
Com a noção de que as características limitantes e normativas atribuídas aos gêneros se tratam de construções, recorremos à ideia de que as elas podem ser transformadas de forma que as vivências se tornem mais livres, mais diversas e mais amplas – e a subordinação feminina seja eliminada. E, neste ponto, conseguimos encontrar uma similaridade com as correntes de pensamentos feministas. Piscitelli (2002) argumenta que as diversas correntes do pensamento feminista afirmam a existência da subordinação feminina e não só questionam o caráter natural dessa subordinação como defendem que ela é resultado da construção social feita da mulher. “Isto é fundamental, pois a ideia subjacente é a de que o que é construído pode ser modificado. Portanto, alterando as maneiras como as mulheres são percebidas seria possível mudar o espaço social ocupado por elas” (Piscitelli, 2002, p. 2). Nessas ações, que contribuem para a alteração da percepção acerca das mulheres, podem ser incluídas as representações midiáticas dos gêneros.
No esporte, especialmente no futebol feminino, foi possível constatar que, no decorrer da história, parte da imprensa especializada fez parte das estruturas de poder que colocavam as mulheres em uma posição de subordinação. Reportagens que traziam médicos atestando que o futebol era prejudicial ao corpo feminino, apoiando a proibição da modalidade, reproduzindo imagens de uma feminilidade dominante e ironizando os esforços femininos pelo desenvolvimento da modalidade são exemplos de como o jornalismo esportivo compactuou, reforçou e ajudou a construir os mecanismos de discriminação com base no gênero. E foi, a partir dessa história de desigualdade, que se estabeleceu a relação da imprensa esportiva com o futebol de mulheres.
Interseccionalidade
Aqui, nos voltamos à questão de que essa “opressão comum” com base no gênero já foi muito questionada tanto pelo movimento feminista quando por autoras da teoria feminista, especialmente pelo feminismo negro, que colocou em cheque a noção homogeneizadora sobre as vivências de mulheres. Por isso, a abordagem interseccional, que traz para o assunto aspectos como classe, raça, sexualidade e outros marcadores sociais, tem ganhado cada vez mais espaço e aprofundado discussões pautadas em desigualdades e discriminações.
É possível compreender que o gênero é uma das categorias por meio das quais podemos analisar sistemas e mecanismos de opressão, mas não a única. Para percebermos, por exemplo, que as mulheres negras vivenciam as desigualdades de forma distinta, inclusive no esporte, basta lembrar da marcante matéria da revista Placar de 1983, com o título “A Bela e as Feras”, em que jogadoras de futebol negras foram retratadas e descritas como violentas e selvagens, enquanto a atleta branca que protagoniza a reportagem foi sexualizada e colocada como um modelo de beleza e de comportamento.

Sobre a jogadora branca, a matéria ressalta suas “medidas de Miss” e afirma: “não é por acaso que Bel se transformou na alegria da torcida durante as partidas preliminares do Inter no Beira-Rio”. Já sobre as atletas negras, o texto narra que Castor e suas
“perigosas meninas” receberam uma suspensão, e acrescenta: “(…) resta torcer para que, no futuro, o futebol feminino tenha muitas belas, inspiradas na atraente estrela do Inter – e que as feras voltem às jaulas”.
Nesse sentido, é interessante destacar que este retrato misógino que sexualiza a atleta branca é também misógino e racista com relação às jogadoras negras, pois as dessexualiza, insulta, ironiza, desumaniza e desmerece.
No mesmo sentido, conhecemos o papel das questões de raça e classe no desenvolvimento do futebol enquanto modalidade esportiva no Brasil, em que os homens negros e pobres precisaram superar barreiras para a prática do esporte de origem estrangeira e elitizada. No futebol feminino, a classe é uma categoria social decisiva para as jogadoras. Isso porque, na sociedade capitalista contemporânea, em que, no esporte espetacularizado e competitivo as relações de trabalho se fazem presentes, a falta de profissionalização, visibilidade e estrutura para que os times se tornem cada vez mais competitivos faz com que muitas mulheres não consigam se sustentar por meio do futebol, ressaltando a necessidade de outras atividades econômicas que interferem em suas carreiras ou as fazem desistir de se dedicar a uma atividade que não representa um meio de subsistência.
Desnaturalizar
Outra questão sobre os estudos de gênero é que “o que se tem, via de regra, é uma utilização restrita e imprecisa de gênero, como sinônimo de homem e mulher” (Moraes, 2013, p. 101). Para Moraes (2013, p. 103), inclusive, é necessário “avançar nos estudos que trabalhem com a tensão corpo biológico/corpo simbólico e as possibilidades de transformações com respeito às identidades”.
Aqui, faz-se relevante retomar a discussão sobre o corpo e os papéis de gênero no contexto esportivo, a qual faremos apoiados na formulação de Goellner (2005, p. 143), que recorre a dois pontos para justificar a pouca visibilidade das mulheres no futebol brasileiro: “a aproximação, por vezes recorrente, entre o futebol e a masculinização da mulher e a naturalização de uma representação de feminilidade que estabelece uma relação linear e imperativa entre mulher, feminilidade e beleza”.
A autora observa que a participação das mulheres no futebol representava uma transgressão ao que era hegemonicamente aceito e definido como constitutivo da identidade feminina que tinha na imagem de mãe grande aceitabilidade. Conforme explicita, na década de 1930, quando as mulheres começaram a se inserir neste espaço esportivo, o corpo feminino era visto como um bem social que acomodava a expectativa de uma prole sadia. Com isso, o fruto deste corpo era resultado de um projeto social que o percorria, inscrevendo-lhe marcas que evidenciavam seu fortalecimento ao mesmo tempo asseguravam sua fragilidade uma vez que “continuavam a demarcar seu local social a partir dos contornos de sua natureza anatômica” (Goellner, 2005, p. 146), uma percepção nos apresenta uma tensão entre o corpo biológico e simbólico. Essa relação entre natureza e biologia com cultura e sociedade se faz presente na investigação da história feminina no esporte, por esta razão consideramos necessária a demarcação do conceito de gênero como uma rejeição ao determinismo biológico.
Avançando no tempo, a autora explica que a beleza no século XX era vista como sinônimo de saúde e de uma genitália apta para as funções reprodutivas. No entanto, Goellner segue afirmando que, a partir da década de 1970, um novo discurso é incorporado a este, o da erotização do corpo feminino. Além disso, destaca que o temor de que o esporte pudesse masculinizar as praticantes direciona-se não apenas às modificações de seu caráter, mas, sobretudo, de sua aparência. “Afinal, julgava-se/julga-se o quão feminina é uma mulher pela exterioridade do seu corpo” (Goellner, 2005, p. 148).
Dessa forma, a autora esclarece que esses discursos estão baseados em uma representação essencialista dos gêneros, segundo a qual a cada sexo correspondem algumas características inerentes que o define. Para ela, pressupõe-se a existência de uma determinada essência masculina e/ou feminina natural e imutável. Neste sentido, nos juntamos à autora na ideia de que a concepção essencialista se opõe à que afirma ser o gênero uma construção social.
Uma categoria útil
Consideramos que o gênero é uma categoria útil nos estudos sobre as mulheres no esporte. No mundo contemporâneo e em um cenário em que o esporte-competição é o protagonista na cobertura midiática, temos a distinção binária entre modalidades femininas e masculinas. Na Copa do Mundo de Futebol da Fifa, temos mulheres e homens não só jogando separadamente, mas também em eventos organizados em anos e locais distintos. Nas ligas nacionais, homens e mulheres vivem em “mundos separados”, cada qual com suas dinâmicas, locais de jogos e calendários de competições. Nos Jogos Olímpicos, no futebol e na maioria das modalidades, há a divisão das categorias feminina e masculina – com exceção das competições mistas por equipes, que cresceram nos últimos anos. Além disso, trata-se de um recorte, de um contexto em que as performances e características físicas são pautas, até mesmo do jornalismo, a todo momento.
Por isso, é fato que o gênero é um marcador da desigualdade no esporte – não o único. As mulheres que jogaram ou se envolveram de alguma forma com o futebol, no decorrer da história, tiveram tratamentos, oportunidades e experiências desiguais com relação aos homens, tanto em aspectos econômicos quanto midiáticos, estruturais e simbólicos.
Para Heilborn e Rodrigues (2018, p. 18), “o gênero, para além de uma dimensão da pessoa, aspecto crucial na alta modernidade, constitui-se em um eixo de classificação que organiza as relações sociais”. Além disso, as autoras consideram ser viável afirmar que, por meio do conceito de gênero, pode-se mobilizar um debate político necessário e atual sobre como diferenças sexuais se materializam em corpos biológicos. “A mobilização do conceito de gênero ainda pode ser estratégica no enfrentamento das discriminações sexuais e sociais no que diz respeito às mulheres e ao enfrentamento das diferentes formas de violência – física e simbólica – que ainda nos desafiam”. (Heilborn e Rodrigues, 2018, p. 18).
Portanto, desconstruir a ideia de que há um destino biológico que afasta as mulheres do esporte, um espaço social, é um esforço necessário às pesquisas que envolvem gênero e esporte. Avançamos, assim, na ideia de que as manifestações comportamentais, sociais, psicológicas e identitárias do gênero feminino podem ser diversas e compatíveis com os contextos esportivos; e que o jornalismo esportivo tem um papel marcante no desenvolvimento do esporte feminino e, em última instância, na luta pelo fim da desigualdade de gênero.
Referências
MARTINS, Lemyr. A Bela… E as feras. Revista Placar, São Paulo, n. 701, 28 out. 1983, p. 48-50. Disponível em: https://books.google.com.br/
MORAES, Maria Lygia Quartim De. Usos e limites da categoria gênero. Cadernos Pagu, Campinas, SP, n. 11, p. 99–105, 2013. Disponível em: https://periodicos.sbu.
PISCITELLI, Adriana. Recriando a (categoria) mulher? In: ALGRANTI, Leila Mezan (org.). A prática feminista e o conceito de gênero. Campinas: IFCH/ Unicamp, 2002. Disponível em: https://www.culturaegenero.