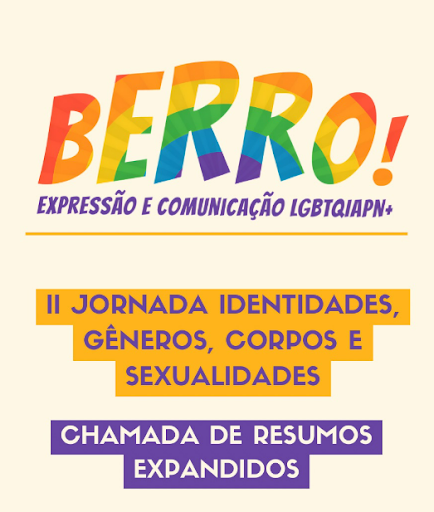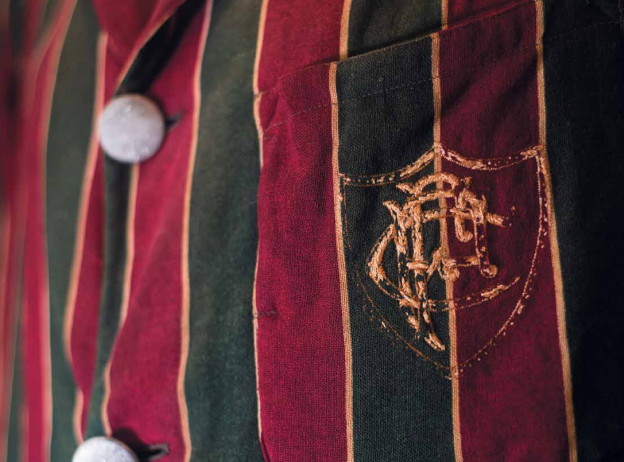Já vai longe o tempo em que o lazaronês[1], com sua fala complicada era alvo da jocosidade do jornalismo esportivo e das torcidas. Cerca de 40 anos depois daquilo que era, majoritariamente, tratado como sinônimo de falar empolado para encobrir deficiências táticas, a nova gramática dos treinadores foi elevada ao estado da arte para explicar o futebol. E, não apenas no meio de técnicos e da boleirada, mas, também do jornalismo, antes bem menos permeável a tais retóricas esvaziadas de sentidos.
Se adotarmos um olhar mais cético e mais crítico, podemos desconfiar fortemente que, na verdade, estamos diante de uma operação discursiva que ressignifica antigas expressões futebolísticas, para que, nessa metaformose linguística, se amplifique o poder dos treinadores, e torcedores e jornalistas deixem de debater, e cobrar, a essência do que se passa em campo.
Entre neologismos ou palavras que tiveram seus significados originais reconfigurados, citamos: linha alta; linha baixa; último terço do campo; verticalizar o jogo; atacar a bola; extremo, 4-2-1-2-1… Em tempos não tão remotos, tais palavras e expressões eram facilmente compreendidas, por público e imprensa, como, respectivamente: adiantar a marcação; marcar no seu próprio campo; proximidade da área, jogar para frente; não ficar parado esperando a bola; ponta (direita ou esquerda). Já sobre a sopa de números, a aparente sofisticação da numerologia treineira pode nos dar outras pistas.
Embora o futebol seja esporte dinâmico, nem sempre traduzível ou reduzível a números, as antigas numerações davam conta de explicitar que, entre as três faixas em que se divide o campo de futebol – defesa, meio-campo e ataque – determinados times jogavam, em geral, com quatro defensores; e alguns poucos, no Brasil, recorriam a um terceiro zagueiro, somando, assim, cinco na defesa. No meio-campo, entre jogadores mais marcadores – cabeça de área, volante – e de criação – armadores – havia time que optava por três ou quatro nessa posição. Com isso, no ataque, tinha-se, respectivamente, três ou dois atacantes.
Tudo isso, teoricamente, porque, com a bola rolando, uma série de fatores imponderáveis e a dinâmica da partida é que iam definir se a rigidez tática seria mantida ou moldada pelos acontecimentos. Apesar disso, a sinalização era clara: quem jogava com quatro no meio-campo buscava fortalecer esse setor, sem, no entanto, garantias de que o desejado fosse confirmado no gramado. Já quem priorizava o ataque, optava por escalar mais um atacante, renunciando a um jogador no meio. Dentro dessas configurações táticas, abria-se uma miríade de possibilidades, a depender, em grande medida da qualidade dos escalados para cada função e da imprevisibilidade inerente a um jogo de futebol.
Um meio-campo marcador que, também, soubesse sair para o jogo, poderia, como no Brasil x Uruguai, da Copa de 1970, trocar de posição com o armador e aparecer na frente, não apenas para municiar o ataque, como para marcar um gol, como ilustrou a troca de posições entre o volante Clodoaldo e o armador Gerson, muito marcado pelos uruguaios naquela altura da partida.
Também o clube que, na prancheta do treinador, desfilava o 4-3-3, poderia deslocar um atacante, geralmente o ponta-esquerda, para compor o meio-campo quando seu time não tinha a bola. Ou ainda quem entrava com quatro no meio, quase sempre com mais marcadores do que criadores, podia liberar os laterais – em algum momento, rebatizados de alas, embora continuem a ser cobrados, centralmente, por suas funções defensivas (?) – para ajudarem a apoiar o ataque.
Mais uma vez, era a dinâmica da partida que confirmaria ou reconfiguraria as estratégias do treinador. No entanto, quando a gramática hodierna dos técnicos anuncia esquemas como 4-2-1-2-1 ou afins, tais numerologias são quase automaticamente naturalizadas pelo jornalismo esportivo como questões dadas, sem que se deem conta de contradição emblemática: por trás de uma suposta camada de modernidade, o que os técnicos estão defendendo é ser possível, em plena era da necessidade de compactação em campo, seccionar tanto o meio quanto o ataque.
Assim, se o 2-1-2 inicial significaria que, em teoria, a equipe teria dois jogadores mais próximos da área, um mais livre, em tese, e, se tiver talento, para armar o time, e dois que encostariam no solitário jogador que seria o único atacante explícito. Ora, esquemas táticos dependem da quantidade de talento dos que o executam. Então, se poderia perguntar: nessa pretensa modernidade, Iniesta, no seu tempo de Barcelona, antes e depois da dupla com Xavi, seria volante (um dos 2 à frente da zaga ou ainda o 1, se a configuração definida pelo treineiro for 4-1-3-3 ou seria armador?
Se a resposta for a primeira, como explicar a constante presença dele próximo da área adversária, inclusive, no momento em que este tinha a bola. Caso se fixe na segunda possibilidade, qual a explicação para quando, também recorrentemente, iniciava o ataque do time catalão a partir da entrada da sua área? Não seria Inieta a personificação da desconstrução da “muderna” numerologia treineira, ao mostrar que, no futebol contemporâneo, resta pouco espaço para meio-campistas que se limitem a marcar ou que, sabendo jogar, se recusem a participar da marcação? E que a principal preocupação de um treinador deve ser evitar que sua equipe atue com três setores estanques, para não conceder espaços generosos ao adversário?
Assim, ao se concentrar em números que empiricamente raramente são confirmados em campo, o jornalismo esportivo deixa de questionar se essa nova gramática não serve para encobrir visíveis inconsistências táticas dos nossos treinadores. Na nova gramática treineira ou “delírios táticos”, na expressão de Tostão, poucas sintetizam tal indigência como a popularizada “saber sofrer”. Traduzida na prática, significa que, sem opções de ataque, um time vai ficar submetido à sorte de, entre os constantes ataques do adversário, torcer para não sofrer um gol. Assim, a cada bola cruzada na área ou chute desferido de perto do goleiro, a torcida desse clube deve, entre unhas roídas e respiração acelerada, celebrar a genialidade tática do seu treinador.
Se a essa nova definição de defensivismo somar-se a celebrada “jogar por uma bola”, o jornalismo crítico não deveria vacilar, a exemplo do que fazia em tempo não tão remoto, em qualificar tal opção como “retranca”, “futebol covarde” ou “time sem opções”. No entanto, como disse Marcelo Bielsa, ao utilizar o mesmo comportamento mobilizado para amplificar o reconhecimento na vitória para condenar o comportamento na derrota, a imprensa – e não apenas a brasileira – “especializou-se em perverter os seres humanos de acordo com vitórias e derrotas”.
E tal comportamento não se limita à defesa do resultadismo, como criticava o treinador argentino, mas, também, serve para naturalizar uma gramática que, ironizada em momento mais brilhante do nosso futebol, passou a ser reproduzida acriticamente. Fica a provocação: a perda de qualidade levou à necessidade de colocar camadas retóricas esvaziadas de sentidos aos discursos dos treinadores ou foi o inverso? Ou será que ambos caminharam juntos?
[1] No período em que dirigiu a seleção brasileira, entre 1989 e 1990, Sebastião Lazaroni, além de anunciar o início da “era Dunga”, que substituiria o “futebol-espetáculo”, notabilizou-se por explicações como: “galgar parâmetros”; “lastro físico”, “pijama-training” e “intenção sinergética”. Várias delas soam como primas da “treinabilidade” e do “oportunizar”, do titês, este, no entanto, idioma assumido, sem ironias, pelo jornalismo esportivo.