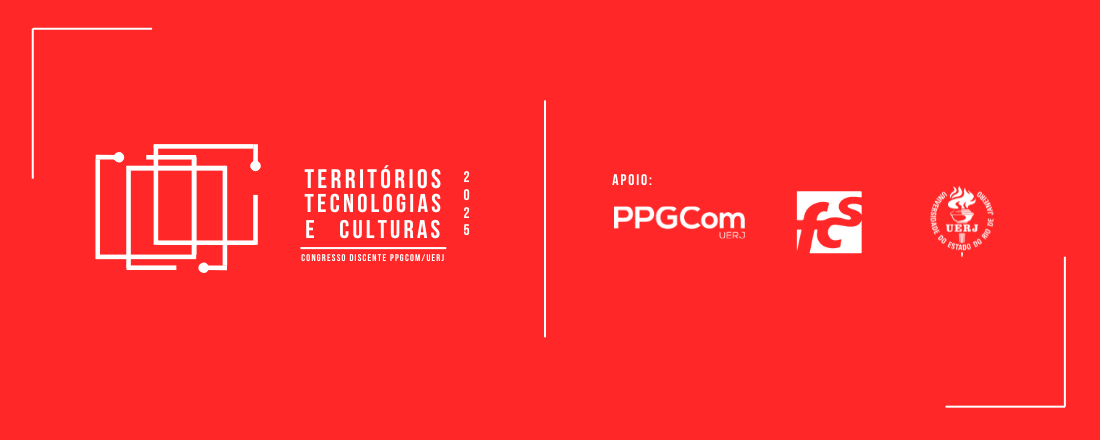Vivemos, com a pandemia, uma situação singular nos estádios de futebol do mundo. As partidas ocorrem normalmente dentro de campo, mas as arquibancadas estão completamente vazias: a circulação do vírus impede aglomerações e, consequentemente, a festa das torcidas. Enquanto os gramados, depois de meses, voltaram a ser ocupados pelos jogadores, as arquibancadas seguem praticamente desertas. Contam somente com a presença das bandeiras, sem ninguém para tremulá-las.
Há quase 50 anos, uma outra situação de excepcionalidade envolveu um estádio de futebol específico. Em 11 de setembro de 1973, ocorreu o golpe militar no Chile que tirou do poder o governo democraticamente eleito de Salvador Allende. No seu lugar, chegava Augusto Pinochet, que implantaria uma ditadura que duraria quase vinte anos.
Um dia depois do golpe, o maior estádio do país, inaugurado em 1938, principal palco da Copa do Mundo de 1962 e com capacidade para 80.000 torcedores, se transformava no maior centro de detenção e tortura da América Latina. Com os jogos no local suspensos, o gramado do “Coloso de Nuñoa” não presenciava mais os jogadores e a bola, mas sim os militares e seus fuzis. Nas arquibancadas, não estavam mais os torcedores, e sim os presos políticos.
Os detentos sofriam com torturas físicas e psicológicas, simulações de fuzilamento e interrogatórios incessantes. Muitos foram assassinados.
Dormiam nos vestiários e no piso frio dos corredores internos sob as tribunas. De dia, ficavam nas arquibancadas, à espera de não serem chamados para os temíveis interrogatórios.
Após 10 dias de total reclusão, o estádio foi liberado para visitas da Cruz Vermelha e da imprensa. A ditadura pinochetista sofria muita pressão internacional, e os militares queriam passar uma imagem de normalidade e respeito aos direitos humanos.
Deixaram que os fotojornalistas entrassem. O governo parecia entender que as fotografias, como afirma Boris Kossoy (2009, p.21), são “fragmentos selecionados da aparência das coisas”. Tratam-se de seleções a partir do real, com determinados cortes espaciais e temporais, definidos pelo operador da câmera. A ideia era que as fotografias mostrassem uma determinada realidade, que corroborasse a versão dos militares.
Presos bem cuidados, bem alimentados, e um ambiente prisional como qualquer outro. Mas não seria exatamente esse o papel cumprido pela fotografia nesse contexto histórico de excepcionalidade.
O governo contava que os fotógrafos poderiam criar uma realidade de acordo com a versão oficial dos fatos, mas não imaginava que eles poderiam construir um modelo de representação diferente do desejado. Ainda segundo Kossoy (2009, p. 30), “a imagem fotográfica é antes de tudo uma representação a partir do real segundo o olhar e a ideologia de seu ator”.
Os fotógrafos que estiveram no Estádio Nacional naquele período, grandes nomes como Marcelo e Christian Montecino, buscaram mostrar, dentro dos limites impostos, o absurdo daquela situação.

As cenas de reencontros familiares e trocas de carinhos entre pessoas que se amam não poderiam deixar de sensibilizar os operadores das máquinas fotográficas. E estão presentes entre as imagens produzidas naquele contexto. Beijos, carinhos e carícias por entre as grades mostram que o amor consegue sobreviver às condições mais extremas. Mas também serviam ao desejo dos militares de tentar normalizar o absurdo.

Talvez com essa consciência, os fotógrafos buscaram brechas para documentar outros aspectos daquela realidade. As arquibancadas cheias, mas sem as camisas e bandeiras dos tradicionais clubes chilenos. Indivíduos de expressões angustiadas sob a mira dos fuzis do exército.

Parecia que desejavam – e precisavam – documentar aquele estádio absurdo. Joan Fontcuberta (2014, p.188) discorre sobre a subjetividade inerente à produção imagética. Por não ser um robô, e sim um ser humano, o fotógrafo imprime seus sentimentos no fazer fotográfico, produzindo imagens que tomam partido.

E a tomada de posição parecia ser clara: de oposição a um governo que foi capaz de tomar de sua população até a principal praça esportiva do país. O Estádio Nacional foi centro de detenção e tortura por 59 dias, de 12 de setembro de 1973 a 9 de novembro daquele ano. Pelo local, passaram nesse período cerca de 40 mil pessoas, e aproximadamente 400 delas foram assassinadas.

O estádio só deixou de ser prisão com a proximidade da partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 74. A seleção chilena deveria enfrentar no país o selecionado soviético na busca pela vaga no Mundial da Alemanha Ocidental. A União Soviética se recusou a jogar no estádio que servia como prisão, mas o governo chileno, com o aval da FIFA, preparou o campo para a realização do jogo. A URSS não foi a Santiago, o Chile venceu por WO e foi para a Copa.
Desde então, o estádio nunca mais voltou a servir como presídio. Seu gramado histórico foi novamente ocupado pelos jogadores, e as arquibancadas pelos torcedores de Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica e outras equipes chilenas e latino-americanas.
As fotografias produzidas naquele momento são fundamentais para entendermos o que aconteceu ali naquele período. Eduardo Galeano (2010, p. 20) dizia que “não há nada menos mudo que as arquibancadas sem ninguém”. Talvez aquelas arquibancadas cheias de prisioneiros fossem ainda mais mudas.

Referências
FONTCUBERTA, Joan. A câmara de Pandora. São Paulo: Gustavo Gili, 2014.
GALEANO, Eduardo. El fútbol a sol y a sombra. 2a edição. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010.
KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.