O período de 2020 certamente ficará lembrado na história como o ano das incertezas. Esse cenário, em muito, está relacionado com a pandemia do COVID-19 que redefiniu nossas formas de convivência social, de higiene com o corpo, de trabalho e de lazer.
Reconhecida no mundo desde dezembro de 2019, a doença se caracteriza por uma fácil disseminação entre as pessoas e uma dificuldade de identificação daqueles indivíduos que estão com a doença (assintomáticos). Nesse cenário, até o momento, a doença levou quase 1 milhão de pessoas a óbito no planeta todo e ultrapassou a casa dos 30 milhões de infectados. No Brasil, terceiro maior país afetado pela COVID-19, o número de óbitos está próximo de 140 mil e o de infectados é de quase 4,5 milhões de pessoas.
O desconhecimento acerca dessa nova doença (sintomas, profilaxias, tratamentos e consequências clínicas) ainda hoje representa um desafio para a comunidade cientifica e a população mundial. Como medida de combate ao novo coronavírus, uma das ações reconhecidamente eficazes para mitigação do contágio foi a implementação do distanciamento social e das medidas de lockdown (fechamento de serviços não-essenciais) com a intenção principal de diminuir a curva de infecção da doença e não sobrecarregar a estrutura hospitalar dos países.
As estratégias de distanciamento social e lockdown foram eficazes em reduzir as mortes e contágios, mas impactaram diretamente no desenvolvimento econômico dos países afetados provocando crises na cadeia de produção, retração do consumo, falências, desemprego e recessão. Essa crise causada pelo novo coronavírus também atingiu o futebol, já que esse faz parte da indústria do entretenimento, uma das mais afetadas pelas medidas de distanciamento social.
No caso do Brasil, o futebol é uma indústria que movimenta muito dinheiro. Segundo dados da consultoria Ernest Young, em 2019 o futebol gerou 53 bilhões de reais à economia nacional. Dentro desse montante, estão inseridos pagamentos de salários, patrocinadores, cotas de televisão, mão de obra indireta para realização das partidas, dentre outros. Com o advento da COVID-19 essa indústria se viu seriamente atingida pela suspensão das partidas, impossibilidade de público e o cenário de incertezas acerca das chances de retorno.

Após quase 4 meses de interrupção dos campeonatos no Brasil, os clubes brasileiros, as federações, a CBF e a mídia esportiva começaram a debater as possibilidades de retorno do futebol. Nesse aspecto, posições antagônicas foram verificadas entre aqueles que defendiam a volta sob condições específicas de protocolos sanitários e outros que enxergavam a volta como precipitada, principalmente pelo contexto de aumento das mortes e do contágio visto nos meses de junho e julho.
Passados quase 3 meses da volta do futebol, podemos constatar que os protocolos sanitários utilizados no futebol vêm tendo relativo sucesso em mitigar o contágio entre os atletas e os funcionários que trabalham no entorno do espetáculo. Contudo, é evidente a existência de desproporcionalidades nas possibilidades de aplicação dos protocolos em face das desigualdades existentes entre clubes e federações dentro do Brasil. Além disso, os casos verificados recentemente no Flamengo, com 7 jogadores infectados no Equador, ou os 14 infectados no Boca Juniors reforçam a compreensão de que não existe protocolo 100% eficaz.
Ao entrarem em campo pelos campeonatos e realizarem deslocamentos cada vez maiores, seja pelo Brasil nos campeonatos nacionais ou pela América do Sul nos campeonatos internacionais, esses atletas estarão inevitavelmente se expondo ao risco de contaminação existente nos hotéis, estádios, aeroportos e transportes fretados.
A possibilidade de infecções e surtos entre os atletas era e ainda continua sendo um dos pontos principais do debate sobre o retorno do futebol, principalmente por aqueles que advogam que o retorno foi precipitado. Há riscos? Sim, Claro! Os casos de Flamengo, Boca Juniors, Corinthians e Atlético Goianiense nos mostram que a criação de bolhas é cada vez mais difícil.

Diante dos riscos óbvios e da possibilidade factível de óbito, à época dos debates sobre a volta do futebol muito foi debatido sobre a necessidade de alteração dos formatos dos campeonatos. Os argumentos para mudanças versavam sobre: minimizar riscos de contágios criando uma sede única para as competições; extinção dos estaduais; e redução das rodadas dos campeonatos para que isso não inchasse ainda mais o calendário brasileiro, já tão cheio.
A grande imprensa televisiva, impressa e digital em seus debates pontuou que havia por parte dos clubes uma dose de irresponsabilidade e insensibilidade por preconizarem os campeonatos nos moldes existentes pré-pandemia. Alguns analistas até viram doses de negacionismo nos clubes e seus dirigentes. A intenção desse artigo não é defender os clubes e seus dirigentes, mas entender os motivos pelos quais não abriram mão do formato estabelecido em períodos de normalidade.
O futebol é como um produto econômico, formado por uma cadeia de agentes que produzem, distribuem e consomem um bem com vistas a obtenção de lucro. Nesse sentido, os clubes são apenas uma parte desse processo. Colocar-lhes toda a culpa é perder de vista o fenômeno como um todo, ou como remete o título, a parte que nos cabe nessa pandemia.
Uma das maiores preocupações dos clubes com a mudança de fórmulas e redução de campeonatos residia na diminuição das cotas de televisão e de patrocínio que ganhariam das emissoras e das empresas atreladas a eles. Lembremos que no Brasil, segundo dados do Itaú BBVA, os direitos de transmissão e os patrocínios representaram, em 2019, respectivamente 41% e 11% de todas as receitas produzidas pelos clubes, ou seja, mais de 50% da arrecadação bruta.
Em campeonatos com menos rodadas, as emissoras pagariam proporcionalmente ao tamanho deles, dito isso, torneios com 19 rodadas, ao invés de 38 rodadas, renderiam aos clubes metade daquilo que estava previsto. Num efeito em cascata, os patrocinadores estampados em camisas, placas de publicidade, matchday e marketing de ativação também corrigiriam seus pagamentos proporcionalmente.
Num cenário no qual os clubes brasileiros estão afundados em dívidas e muitas das rendas futuras já estão penhoradas para pagar débitos, perder essas cotas significaria mais um duro golpe nos clubes. Ainda mais porque receitas como bilheteria (14% da arrecadação bruta) e venda de jogadores (23% da arrecadação bruta) estariam comprometidas nesse momento de pandemia. Na verdade, é possível dizer que os clubes não tiveram muita opção de escolha pelo formato. Os imperativos do mercado e a situação financeira deles não possibilitaram margem de manobra razoável para escolher.
O ponto principal é a reflexão sobre a responsabilidade que cada agente dentro desse campo deveria ter tido para que os atletas e profissionais envolvidos no espetáculo não se expusessem aos riscos de uma volta precoce e nos formatos pré-pandemia. Emissoras, empresas, patrocinadores e investidores do futebol deveriam ter pensado “qual parte me cabe nessa pandemia?”. Obviamente a pergunta seguinte a ser feita seria: O que poderia ser feito por esses agentes? Eles poderiam manter os valores a serem pagos esse ano pelos formatos antigos, mesmo implantando um novo formato de exceção. No futuro negociava-se a restituição desses valores parcelada. Poderia ter sido criado um fundo de ajuda aos clubes por parte da CBF ou criação de um sistema de empréstimos a juros baixos junto aos clubes, mas fixado as cotas de patrocínio e televisão do futuro.
Todas essas propostas são possibilidades e especulações, mas reforçadas por uma certeza: a principal conta da pandemia no futebol recaiu sobre os clubes e os atletas. Ao mesmo tempo, parte da mídia esportiva construiu uma narrativa que “vilanizou” as agremiações esportivas e seus dirigentes, sem, no entanto, refletir sobre a parte de esforço que cabia a outros agentes do futebol para proteger os atletas e os profissionais envolvidos no espetáculo. Se todos – empresas, emissoras, clubes, jogadores, investidores – tivessem socializado parte das perdas, abrindo mão de algum quinhão dos seus recursos, talvez não tivéssemos que impor aos clubes uma “escolha de Sofia” que aumenta o risco de todos ao contágio. Às emissoras caberia ultrapassar o limite do discurso de preocupação com a volta do esporte e agir ativamente para apoiar os clubes para que eles não precisassem voltar agora, e aos comentaristas debater o todo do problema e não somente uma fração dele.



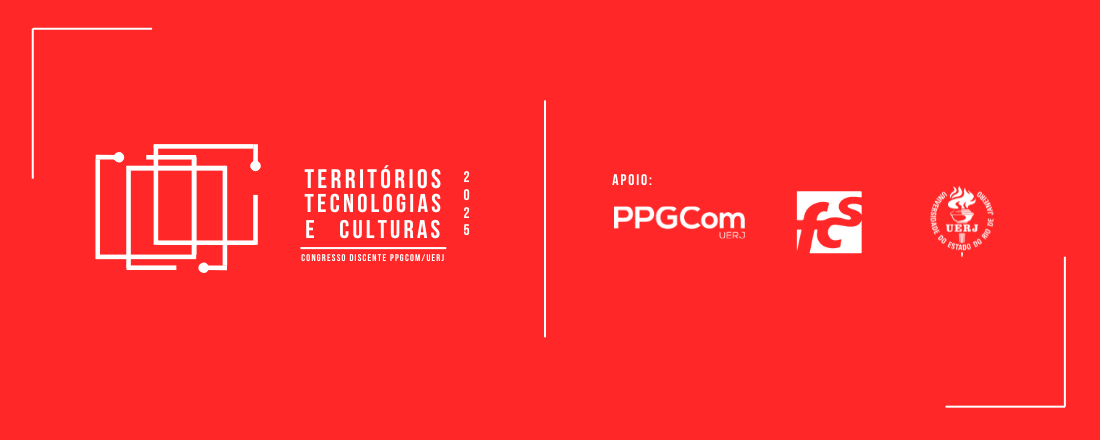

One thought on “A parte que nos cabe nessa pandemia”