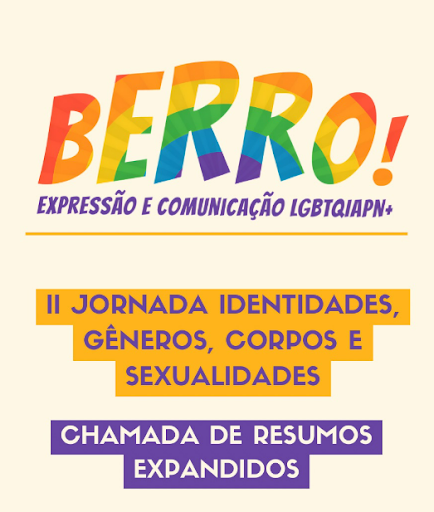Neste mês de novembro retornei aos eventos acadêmicos presenciais. Passei três dias em Belo Horizonte, no IV Simpósio Internacional Futebol, linguagem, artes, cultura e lazer e do III Futebol nas gerais. Foi a primeira vez desde outubro de 2019 que participei de um evento presencialmente. Uma curiosidade desimportante, naquele outubro, de 2019, mais precisamente no dia 24, fiz uma fala presencial no Leme, ali na UERJ, ao lado do Maracanã, onde estive um dia antes quando o meu Grêmio tomou um sonoro 5 a 0 do Flamengo.
Procurem as fotos do encontro nos canais do Leme e vejam como eu estava vestido. Voltando ao assunto verdadeiro do texto, entre o evento da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), na UFF, em Niterói, e o evento organizado pelo Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas (GEFuT), na UFMG, por culpa da Covid-19 (ampliada pela estupidez negacionista que nos cerca) “estive” em congressos no Rio de Janeiro, em São Paulo, Florianópolis e até em Montevidéu, todos eles sentando na mesma cadeira em meu escritório. Neste intervalo, porém, o que efetivamente revolucionou minha vida foi a chegada do meu filho Martin, na metade de 2021.

Desde sua chegada, os três dias em BH foram os primeiros que fiquei inteiros longe dele. Pode parecer excessivamente romântico ou piegas, mas a alegria de reencontrar grandes amigas e amigos contrastou com um sentimento de falta que não conhecia até então.
Para a sequência deste texto, em alguma medida, quero falar sobre isso. Sobre diferentes paternidades que circulam no dispositivo pedagógico do futebol e que constituem conteúdos do currículo de masculinidade dos torcedores de futebol. Narrarei mais três episódios envolvendo homens e suas masculinidades e paternidades. Durante o Simpósio, em Belo Horizonte, um participante/torcedor, integrante de torcida organizada, afirmou que suas filhas torciam para o rival e odiavam o seu clube. Ele relatou, ao ser questionado pela filha, sem titubeio, que amava mais o time do que a própria filha.
Não satisfeito ainda ampliou seu relato informando que foi conhecer a filha somente em seu quarto dia de vida já que ela nasceu em dia de jogo e ele ainda ficou preso por três dias por ter se envolvido em uma briga de sua torcida. Além da naturalidade com que o relato foi feito chamou minha atenção como ele foi acompanhado de risos, não de deboche, mas de aprovação, por parte significativa da plateia.
Saindo do simpósio e acompanhando as notícias da Copa do Catar, esse fatídico evento que me obrigou a terminar o ano futebolístico que realmente importa – o do Grêmio – no início de novembro, duas delas me chamaram a atenção. Quatro dias antes da estreia, o menino Benício, de quatro anos, gritou pelo pai, Lucas Paquetá. Distantes desde a concentração da seleção brasileira, na Itália, o menino chorou pelo pai que subiu as arquibancadas para acudir o menino.
Ao mesmo tempo que a chamada do Instagram no GE falava do “momento fofura”, o comentarista esportivo João Paulo Cappellanes, da Rádio Bandeirantes, criticou o episódio no Twitter: “Cara, não quero ser chato, mas será que os jogadores não conseguem ficar 30 dias totalmente focados e longe da família?! 30 dias não vai [sic] tirar pedaço de ninguém, né?! Porra?”… Pedaço talvez não tire, mas se eu tive dificuldades em três dias, me parece que em trinta me atrapalharia bastante.
Mas acho que a pergunta mais pertinente deveria ser: precisa? É necessário ficar trinta dias longe da família? Um jogador de futebol não pode ser pai? A paternidade dificulta o desempenho esportivo do jogador? É isso que pode nos tirar o hexa? O eterno ídolo, estátua e dublê de treinador do Grêmio, Renato Portaluppi já havia justificado a antecipação de uma concentração dizendo que os jogadores tinham filhos pequenos que acordam durante a noite e atrapalham o sono dos atletas. A fala não sofreu questionamentos durante a coletiva de imprensa ou em repercussões no meio da imprensa esportiva.
Me parece bastante curioso como é fácil entender que a demanda de um filho, e que compete a qualquer adulto funcional, atrapalha um jogador. Sim, filho demanda, sim, filho atrapalha[1], sim, filho é responsabilidade dos adultos responsáveis por seus cuidados. Em 2018, seis dos onze titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia cresceram distantes do pai biológico[2]. Será que não é isso que atrapalha? Em agosto deste ano já tínhamos mais de cem mil crianças nascidas em 2022 no Brasil registradas sem o nome do pai[3]. Será que não é isso que atrapalha?
O último episódio escolhido para este texto envolve o principal destaque do jogo de estreia da Copa do Catar, entre a seleção local e o Equador. Em 2016, Enner Valencia, atacante que marcou os dois gols da equipe sul-americana, fingiu lesão para sair do estádio e não ser preso pela falta de pagamento de pensão para sua filha. A polícia não conseguiu prender o jogador por ele ter saído de ambulância direto para o hospital. Neste intervalo, seus advogados conseguiram reverter a ordem de prisão e o jogador permaneceu em liberdade. Existe uma troca de acusações dele com a mãe da criança, mas me pareceu bastante curioso o tom anedótico apresentado nas reportagens sobre o episódio. Não consegui perceber um esforço jornalístico para buscar verificar se se tratava de caso isolado ou se a relação de atletas com filhos de relacionamentos anteriores e o pagamento de pensão pode ser entendido como um problema com alguma regularidade.
Nos três episódios narrados consigo perceber uma naturalização da desresponsabilização paterna pelo cuidado de suas filhas ou de seus filhos. O riso de meus colegas de simpósio, o questionamento sobre a necessidade de acudir o filho associado ao conceito de que filho atrapalha, mais a “malandragem” para fugir da cobrança do pagamento de pensão são atravessados pelas disputas de gênero que tenho encontrado ao longo dos anos nas pedagogias do futebol e do torcer. Olhando em movimento podemos ver tímidos passos em busca de uma diminuição da desigualdade entre os gêneros nesse espaço, mas quando olhamos o cenário congelado, como uma fotografia, ele ainda é muito marcado por comportamentos que reforçam as diferenças e ampliam as desigualdades de gênero.
Infelizmente, os conteúdos que compõem essa pedagogia seguem sendo muito difundidos em nossa cultura. O futebol não produz uma cultura exclusiva. Quando se naturaliza a ausência paterna no futebol, também se naturaliza essa ausência em outros espaços. É preciso que nós, homens, saibamos que não somos cúmplices somente quando rimos de um desses episódios, mas que esses episódios nos beneficiam a todos. Eu posso ser considerado um bom pai apenas por ter sentido saudades do meu filho.
Lucas Paquetá, além de criticado, foi exaltado por ter abraçado seu filho. Se não enfrentarmos essas desigualdades ampliaremos nossos privilégios de gênero. Não me parece a melhor escolha se pensarmos em uma sociedade democrática e que valoriza os direitos humanos. Talvez criticar a falta de direitos humanos no Catar seja mais fácil do que reconhecer como as mulheres sempre, sempre (incluindo a mãe do meu filho) são mais responsabilizadas pelos cuidados da prole. A mim não parece possível aceitar essa naturalização. Sigamos questionando as construções de nossas subjetividades que nos trouxeram até aqui!
[1] Sugiro a análise da colunista do UOL, Luiza Sahd. Disponível em: https://tab.uol.com.br/colunas/luiza-sahd/2022/11/22/afinal-a-quem-o-filho-do-jogador-paqueta-atrapalhou-nessa-copa-do-mundo.htm
[2] Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/21/deportes/1529536206_588160.html
[3] Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-08/mais-de-100-mil-criancas-nao-receberam-o-nome-do-pai-este-ano