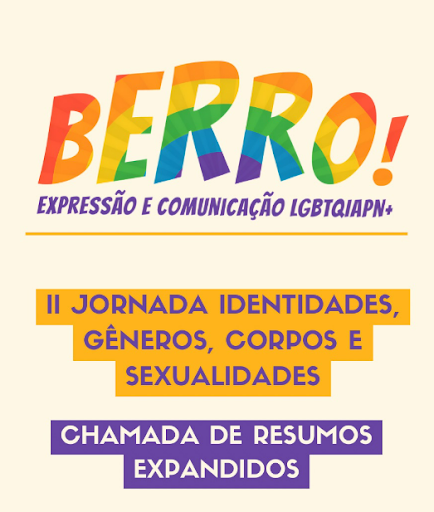No início deste ano, realizei a defesa da minha dissertação, intitulada “‘O profeta vascaíno’: a ascensão política de Eurico Miranda no Club de Regatas Vasco da Gama (1986-2001)”. Como é de praxe, os professores presentes na banca me apresentaram uma série de questionamentos extremamente pertinentes, os quais me levaram a refletir sobre a pesquisa. Como sabemos, ela nunca está exatamente “pronta”.
Entre as questões levantadas, a professora Leda Costa comentou sobre seu incômodo em relação ao termo “vascainismo”. Utilizei essa palavra para tratar da identidade clubística vascaína, especialmente no primeiro capítulo, que denominei “Vasco da Gama, religião!”, e que possui uma subdivisão “Vascainismo”. Uma boa banca, como tive a sorte de ter, faz provocações (no bom sentido do termo) que nos acompanham pela vida acadêmica. Assim, aproveitarei este espaço para discutir minhas reflexões iniciais sobre o termo “vascainismo” e sua viabilidade de substituição em futuras produções.
Primeiro, entretanto, acredito que seja importante situar brevemente o que entendo por identidade clubística vascaína. É lugar comum afirmar que o futebol mobiliza uma série de questões sociais, raciais, étnicas, etc. da sociedade brasileira. É por isso que a adesão às cores de um clube carrega uma série de significados que vão além das quatro linhas. É o que o antropólogo Arlei Damo (2014) chamou de “pertencimento clubístico”. Nesse sentido, “ser Vasco”, “ser Flamengo”, “ser Corinthians”, “ser Cruzeiro” implica, antes de tudo, numa expressão política.
No caso do Vasco da Gama entendo que a identidade clubística está fundamentada em quatro posições centrais em relação aos seus rivais da cidade do Rio de Janeiro (Botafogo de Futebol e Regatas, Clube de Regatas do Flamengo e Fluminense Football Club). A primeira é de cunho social: elite x povo e nela, implicitamente, outra de fundo racial: brancos x negros. A terceira é de caráter geográfico: centro/zona norte x zona sul. Por fim, a quarta é de natureza étnica: brasileiros x portugueses. Tudo isso implica em pensar o Vasco da Gama como um clube marcado pela memória da resistência¹.

Mas essa discussão não é o objeto central deste texto. Voltando ao questionamento da professora Leda Costa, seu incômodo com o termo “vascainismo” muito provavelmente decorre do emprego do sufixo “ismo”. Seu uso remete a uma ideia pejorativa de “patologia” ou “doença”, o que implicaria, por si só, um esforço para mudar o termo para “vascainidade”, por exemplo.
Por que então inicialmente optei por esse termo? Inadvertidamente (talvez), me inspirei na expressão “corintianismo” utilizada pelo antropólogo Luiz Henrique de Toledo (2013) em seu artigo “Quase lá: a copa do mundo no Itaquerão e os impactos de um megaevento na socialidade torcedora”. No artigo, o autor discute os impactos da construção da Arena Corinthians, atual Neo Química Arena, no imaginário do torcedor do clube paulista. Para ele, o “corintianismo” é uma forma específica de torcer, sintetizada no bordão: “Corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus!” (TOLEDO, 2023, p. 153). Ou seja, de uma forma ou de outra, estamos falando que a identidade do clube molda, no plano do imaginário, formas de expressão, seja no estilo de jogo, de torcer ou de administração. Essas expressões são vivas e se adaptam ao contexto em que são discutidas, como Toledo (2013) ressalta no texto referido.
Outro ponto a ser considerado no uso de “vascainismo” ou “vascainidade” é refletir sobre o verbo “torcer” e o substantivo “torcedor”. Além da perspectiva positiva que os amantes do futebol têm dele, o verbo “torcer” também pode denotar ação de “contorcer-se”, “debater-se” ou “retorcer-se”, assumindo, assim, um sentido nada agradável. O substantivo “torcedor”, por sua vez, também pode carregar essa conotação. Vejamos, por exemplo, a definição de Anatol Rosenfeld (2007) em seu livro “Negro, Macumba e Futebol”. Para o autor, um torcedor é aquele que “fazendo figa por um time, torce quase todos os membros, na apaixonada esperança de sua vitória” (ROSENFELD, 2007, p. 94, grifo meu).
Soma-se a isso aqueles que não se envergonham de afirmar que são verdadeiramente “doentes” pelo seu clube do coração. Na língua italiana, por exemplo, a categoria para designar o torcedor é “tifoso”. O termo tem clara origem médica e designa aquele que é acometido pela Febre Tifóide. Nas palavras de Hollanda (2009):
O termo remete à imagem do estado febril de quem é contagiado por uma enfermidade incontrolável ou de quem vê alterada a normalidade de sua conduta em virtude da elevação térmica do corpo, decorrente da excitação e do transtorno emocional a que está sujeito um indivíduo no ápice de uma partida de futebol. (HOLLANDA, 2009, p. 132, grifo meu)
Mesmo a origem da palavra “torcedor” no Brasil evoca uma perspectiva de sofrimento, de estar em um estado de transtorno físico e emocional. Entrou para a memória futebolística nacional a história de que o termo surgiu do gesto das elegantes moças tricolores que, nervosas durante as partidas de futebol, torciam seus lenços em busca de algum alívio imediato. Como relata Hollanda (2009, p. 133): “a torção de tais adereços passou a simbolizar os gestos de aflição, bem como, os efeitos de contração do corpo a que se submetia de um modo generalizado todo e qualquer torcedor”.
Portanto, entendo que torcer significa participar ativamente do que acontece em campo, como se o indivíduo na arquibancada estivesse tomado por um ímpeto de interferir no desenrolar do jogo, em uma condição que afeta mente e corpo de forma intensa. É possível que, consciente ou inconscientemente, tenha utilizado um termo que remete a uma doença por conta disso. No entanto, acredito que seja pertinente a mudança de “vascainismo” para “vascainidade”, uma vez que o primeiro pode assumir sim uma conotação negativa. Vejamos, o debate está aberto.
Notas:
¹ Ver: MARCOLAN, Letícia Costa. “O profeta vascaíno”: a ascensão política de Eurico Miranda no Club de Regatas Vasco da Gama (1986- 2001). 2024. Dissertação (Mestrado em História) – Escola de Ciências Sociais, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2024.
Referências:
DAMO, Arlei. O espetáculo das identidades e alteridades – As lutas pelo reconhecimento no espectro do clubismo brasileiro. In: CAMPOS, Flávio de; ALFONSI, Daniela. Futebol objeto das Ciências Humanas. São Paulo: Leya, 2014.
HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. Futebol, arte e política: a catarse e seus efeitos na representação do torcedor. Organizações & Sociedade, v. 16, n. 48, 2014. Disponível em: https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaoes/article/view/11011. Acesso em: 3 maio 2024.
ROSENFELD, Anatol. Negro, Macumba e Futebol. São Paulo: Perspectiva, 2007.
TOLEDO, Luiz Henrique de. Quase lá: a Copa do Mundo no Itaquerão e os impactos de um megaevento na socialidade torcedora. Horizontes Antropológicos. Porto Alegre, v. 19, n. 40, 2013.