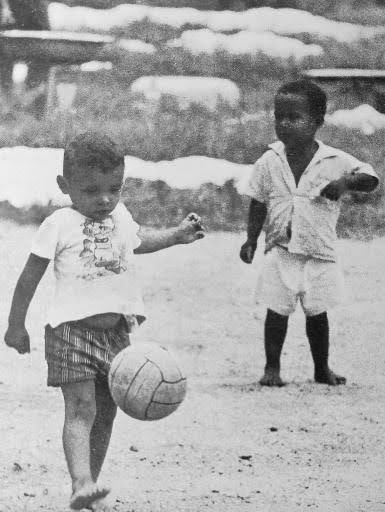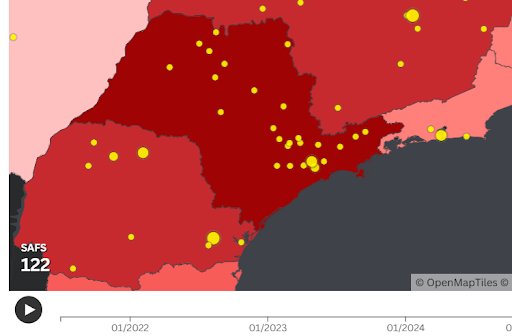Existe um problema muito grande de fontes de informação no jornalismo esportivo. Podemos citar, por exemplo, a falta de pessoas com deficiência ou mulheres na cobertura midiática. Entre os profissionais do esporte que aparecem em reportagens sobre o assunto, apenas 7% são mulheres. Esse número cai para 4% se considerarmos quem é a personagem principal das matérias (Passos, 2021).
Além disso, vemos o predomínio de uma cobertura voltada a resultados, polêmicas e emoções imediatas. Dessa forma, as fontes predominantes são atletas, técnicos, dirigentes e comentaristas.
Em entrevista publicada no Journal of Olympic Studies, em 2020, Wilson da Costa Bueno diz que, durante a pandemia, ao acompanhar a cobertura, percebeu que o jornalismo é realmente refém das competições e jogos, com pouca disposição e criatividade para desenvolver pautas investigativas e que extrapolam os limites do que acontece em campo. “A ausência das competições não inspirou os colegas da mídia esportiva para o desenvolvimento de pautas ampliadas que contemplassem o esporte em sua dimensão sociocultural, política e econômica” (Barros, 2020).
Quando algum assunto significativo precisa ser trazido ao debate, como os casos de racismo ou LGBTQIA+fobia que acontecem com frequência no futebol brasileiro e internacional, em geral, os jornalistas se limitam a trazer apenas o básico, sem entrevistados como sociólogos, antropólogos, ou qualquer pesquisador que possa contribuir com o debate. Isso desvaloriza análises mais profundas e estruturais sobre gestão, políticas públicas, desigualdade, violência, gênero e muitos outros assuntos substanciais.
Quando a violência é pauta do futebol, o mesmo ocorre. A cobertura se resume à narração dos fatos e um ou outro comentário raso. “Para falar de economia, economistas são chamados, para falar de saúde, médicos são chamados, mas para falar sobre esse contexto esportivo, no máximo, autoridades policiais falando sobre reprimir e jornalistas confiando na própria experiência, tratando como um assunto muito simples.” (Bezerra, 2023).
Outro exemplo foi o que aconteceu na cobertura sobre o caso da boxeadora Imane Khelif, nas Olímpiadas de Paris. No GE, em 18 reportagens encontradas (quase o total de publicações sobre a temática no site) utilizam a palavra “polêmica” para definir a situação. É uma palavra que não define a situação de discurso de ódio e fake news contra a atleta, mas considerando que fosse uma questão de debate, não havia fontes que apontassem para isso. Outro ponto é que, “apesar de ter publicado algumas declarações da própria atleta se defendendo, o GE não aprofundou o tema, nem chamou pesquisadores para falar da situação das pessoas hiperandróginas ou trans no esporte” (Bezerra; Gregoire, 2024).
Possíveis explicações
Muitos veículos estão migrando o esporte de jornalismo para o setor de entretenimento, inclusive permitindo que os jornalistas esportivos façam publicidade (Sacchitiello, 2018; Sousa; Santos, 2019). Pode ser algo positivo do ponto de vista de audiência, mas não sendo visto como jornalismo, nem mesmo pelo meio de comunicação, fica ainda mais difícil fazer trabalhos mais sérios. Conforme Santos, Mezzaroba e Souza (2017), o tom humorístico tem ganhado força no jornalismo esportivo, o que alguns passaram a chamar de “leifertização”. Nesse modelo, a notícia fica de lado para que o foco passe para o curioso e nos fatos que fazem o consumidor sorrir.
Pode-se citar ainda que as transmissões e publicação de conteúdo esportivo na internet mudaram muita coisa. Conforme Rodrigues e Maluly (2025), algumas características que vão sendo incorporadas com esses produtos são: informalidade, coloquialidade, amadorismo, opinião e análise, interação, entre outras.
Por último, mas não menos problemático, fica a ignorância (ou desprezo) pela vasta produção científica existente hoje sobre esporte e sociedade. André Sousa e Ana Lucia dos Santos (2019), em um artigo sobre a ciência e o futebol na cobertura esportiva paraense, mostram algumas dificuldades que os profissionais encontram nessa integração dos temas. Contudo, “faz-se importante discorrer sobre a ciência do esporte como elemento importante para o desenvolvimento do jornalismo esportivo” (Sousa; Santos, 2019).
Consequências e soluções
Barbeiro e Rangel (2006) afirmam que a essência do jornalismo é única e está ligada às regras da ética e ao interesse público, dessa forma, não é diferente com o jornalismo esportivo.
Ignorar pautas mais aprofundadas, relevantes e os especialistas que podem contribuir com a área, acaba trazendo reportagens superficiais, sem contextualização, reforço de estereótipos, vocabulário inadequado e invisibilização de debates sobre gênero, raça, classe, saúde mental, políticas públicas, entre outros.
Como muitos autores já trouxeram ao longo da história, desde Roberto da Matta até as pesquisas mais atuais sobre o tema, o futebol não deve ser tratado como algo separado da sociedade, sem atenção ao contexto em que está inserido. É necessário que jornalistas esportivos fiquem atentos à formação, saibam dialogar com dados e pesquisas, adotem pluralidade de fontes, busquem contextualização.
Para Santos, Mezzaroba e Souza (2017), para se caracterizar como uma prática jornalística de interesse público, o jornalismo esportivo precisa colocar em pauta aspectos sociais, políticos e econômicos que se conectam com o esporte. Afinal, o bom jornalismo deve promover a cidadania. “Em outras palavras, entendemos ser possível noticiar o esporte sem destituí-lo da complexidade do contexto que o cerca, ampliando seus enquadramentos e agendas, apontando novas perspectivas, como fenômeno social multifacetado” (Santos; Mezzaroba; Souza, 2017, p. 102-103).
Referências
Barbeiro, Heródoto; Rangel, Patrícia. Manual do Jornalismo Esportivo. São Paulo: Contexto, 2006.
BARROS, Luciano Victor. Wilson da Costa Bueno: a dura e remota realidade da cobertura especializada em ciência e esporte. Olimpianos – Journal of Olympic Studies. 2020; 4 Spec No 1: 84-91.
BEZERRA, Larissa. Cenas lamentáveis e outras bobagens: como discurso jornalístico ajuda a perpetuar violência no futebol. Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. Disponível em: https://www.leme.uerj.br/cenas-lamentaveis-e-outras-bobagens-como-discurso-jornalistico-ajuda-a-perpetuar-violencia-no-futebol. Acesso em: 27 ago. 2025.
BEZERRA, Larissa; GREGOIRE, Lucila. Heteronormatividade nos meios de comunicação argentinos e brasileiros: o caso Imane Khelif. Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte. Disponível em: https://www.leme.uerj.br/a-heteronormatividade-nos-meios-de-comunicacao-argentinos-e-brasileiros-o-caso-imane-khelif. Acesso em: 27 ago. 2025.
PASSOS, Úrsula. Futebol narrado e comentado por mulheres ganha espaço na TV aberta. Folha de S.Paulo, São Paulo, 27 de fevereiro de 2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/esporte/2021/02/futebol-narrado-e-comentado-por-mulheresganha-espaco-na-tv-aberta.shtml. Acesso em: 25 jan. 2022.
RODRIGUES, Patrícia Rangel; MALULY, Victor Barros. Pontapé inicial: o novo jornalismo esportivo na era live streaming. Revista Mediação, v. 27, n. 38, p. 56-65, 2025.
SACCHITIELLO, Bárbara. Com elenco do Esporte, Globo estreita laços com a publicidade. Meio&Mensagem, 4 de julho de 2018. Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/midia/com-elenco-do-esporte-globo-estreita-lacos-com-a-publicidade. Acesso em: 27 ago. 2025.
SANTOS, Silvan Menezes; MEZZAROBA, Cristiano; SOUZA, Doralice Lange de. Jornalismo esportivo e infotenimento: a (possível) sobreposição do entretenimento à informação no conteúdo jornalístico do esporte. Corpoconsciência, Cuiabá-MT, vol. 21, n. 02, p. 93-106, mai./ago., 2017.
SOUSA, André Laurent Souza Lopes; SANTOS, Ana Lucia Prado Reis dos. Muito além da fisgada: A ciência e o futebol na cobertura esportiva paraense. Trabalho de conclusão do curso de especialização em Comunicação Científica na Amazônia do XXVII FIPAM/NAEA/UFPA, 2019.